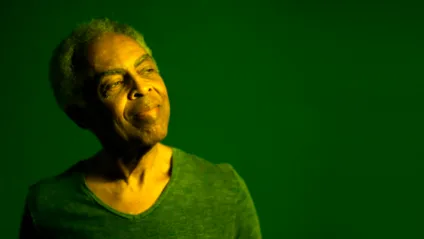Em fevereiro deste ano, pesquisa do USA Today e Gallup descobriu que 72% dos americanos são favoráveis a uma retirada mais rápida do Afeganistão. Mais exatamente em um ano, segundo 52% dos pesquisados em março pela Rassmussen, sendo que 31% deles preferem que seja imediatamente.
 Os prefeitos de 1.200 cidades norte-americanas com mais de 30 mil habitantes, reunidos numa convenção em Baltimore, foram na mesma direção. Emitiram uma resolução, apelando para que o Congresso apressasse o fim das guerras (Afeganistão e Iraque), lembrando que os US$ 126 bilhões gastos anualmente nelas deveriam ser aplicados para criar empregos, reconstruir a infraestrutura, desenvolver energia sustentável e atender a outras necessidades do país.
Os prefeitos de 1.200 cidades norte-americanas com mais de 30 mil habitantes, reunidos numa convenção em Baltimore, foram na mesma direção. Emitiram uma resolução, apelando para que o Congresso apressasse o fim das guerras (Afeganistão e Iraque), lembrando que os US$ 126 bilhões gastos anualmente nelas deveriam ser aplicados para criar empregos, reconstruir a infraestrutura, desenvolver energia sustentável e atender a outras necessidades do país.
A proximidade das eleições faz com que essa posição pacifista cresça no Congresso. Em maio, uma proposta para estabelecer prazos para a retirada das tropas, mais curtos do que os programados pelo presidente, foi derrotada por uma diferença mínima: 215 x 204 votos. Até mesmo Mitt Rooney, o mais cotado dos pré-candidatos presidenciais dos republicanos, agora é contra a guerra no Afeganistão.
Barack Obama, que já chamou essa guerra de “necessária”, bem que gostaria de chamar seus soldados de volta logo. Mas, simplesmente sair, poderia ser catastrófico para suas pretensões de reeleição. Além de ganhar o ódio eterno dos militares (o que não é nada saudável), abriria seu flanco para ataques possivelmente mortíferos da oposição.
Os republicanos explorariam o fim da guerra como uma vergonha nacional. Trariam de volta o velho chavão da “fraqueza” dos democratas. As chances de o povo americano – sabidamente ultranacionalista – sensibilizar-se com esse tipo de acusações são ponderáveis.
De outro lado, continuar com uma guerra que neste ano sangrará o debilitado tesouro americano em US$ 113 bilhões, sem grandes perspectivas de ser vencida, não é nada agradável para o presidente norte-americano. Um acordo com o Talibã seria o ideal, pois permitiria talvez uma saída honrosa.
No momento, porém, as posições de parte a parte são inconciliáveis. Os norte-americanos só aceitam negociar a paz com o prévio desarmamento dos adversários, os quais, por sua vez, exigem, antes de mais nada, a retirada de todas as tropas estrangeiras.
Aparentemente, Obama ainda põe fé numa solução negociada. Tanto ele quanto Robert Gates, Hillary Clinton e diversos generais falam em possíveis acordos de paz, ainda que não a curto prazo.
E sabe-se que há gestões nesse sentido, inclusive utilizando membros do exército e da polícia secreta paquistaneses, cujas relações com os talibãs são sabidamente amistosas. Obama tem um plano para levar os chefes talibãs a aceitar uma saída razoável. Em primeiro lugar, obter uma grande vitória, que o colocaria numa posição forte. A ideia era expulsar os adversários de Kandahar, terceira cidade do país e tradicional reduto dos talibãs, onde eles controlavam diversos distritos.
Em segundo lugar, matar o maior número possível de chefes talibãs para que os sobreviventes, por amor à própria pele, resolvessem abrandar suas posições para se sentarem à mesa das negociações.
Isso já vem sendo feito por meio de operações das forças especiais, que atuam até dentro de redutos inimigos, sem preocupações de fazer prisioneiros. Desde o ano passado, estas ações vêm se intensificando, tendo obtido um saldo apreciável de cadáveres importantes.
Mas essa estratégia norte-americana não parece ser das mais eficazes. Em mais de um ano de operações em Kandahar, os talibãs, de fato, perderam a maioria de suas posições na cidade e muitos efetivos. Mas continuam presentes, lançando frequentes ataques, tendo, inclusive, libertado 300 prisioneiros feitos pela forças dos Estados Unidos e do governo paquistanês, matado o governador, o vice-governador e o chefe de polícia.
Não há segurança nenhuma na cidade, poucos se atrevem a colaborar com o governo ou com a Otan. Também é muito discutível a estratégia de assustar chefes talibãs com a ameaça de serem mortos pelas forças especiais norte-americanas. Afinal, eles são gente para quem morrer combatendo “hereges” é glorioso e lhes abrirá as portas do reino dos céus.
Além disso, as operações noturnas das tropas especiais têm causado muitas mortes de civis inocentes, o que leva o presidente Karzai a fazer repetidos protestos, exigindo mesmo o fim desse tipo de operação. Afinal, ele também quer ser reeleito e precisa atender aos protestos do seu povo contra os ataques norte-americanos que costumam surpreendê-los no meio da noite.
E isso é muito mau, pois, mesmo não levando muito em conta as reclamações de Karzai (afinal, ele não passa de um fantoche), contraria os objetivos norte-americanos de conquistar hearts and minds do povo afegão.
Porém, Obama tem outro plano. Na verdade, “plano B” embora divulgado como sendo o “A”.
Consiste em treinar soldados afegãos para, aos poucos, irem substituindo as forças norte-americanas. Até que, em 2014, o exército local atingiria um contingente de 400 mil, o que permitiria a saída das últimas unidades combatentes da Otan, deixando apenas uma força menor para auxiliar o governo local a garantir a segurança do país.
É um plano digno de Poliana, poucos apostam na sua viabilidade. De fato, seria necessário recrutar e treinar mais de oito mil soldados por mês para se chegar ao total desejado. O que os militares afegãos e os oficiais de inteligência consideram uma tarefa que faria Hércules pedir o boné.
Embora desejada por todos, as negociações de paz tendem a ficar ainda mais difíceis em caso de derrota eleitoral do presidente Obama em 2012. Atualmente, os líderes republicanos criticam a guerra no Afeganistão como uma forma de enfraquecer a imagem de Obama e suas chances de reeleição. Uma vez no poder, a predominância no partido de falcões e adeptos das políticas imperiais fará, provavelmente, com que a Casa Branca não aceite a paz se não com a derrota total dos talibãs.
O que é problemático. Pelo menos.
* Luiz Eça é jornalista.
** Publicado originalmente no site Correio da Cidadania.