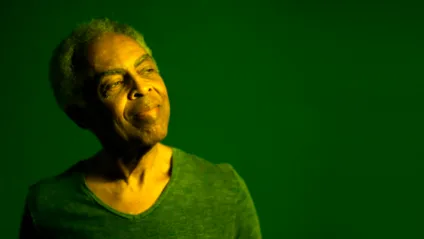Indústria de bienais transformou os curadores em seus verdadeiros e talvez únicos autênticos artistas. E, no entanto, o problema não é haver quem avalie as obras, e sim o fato de tão poucos o fazerem.
 O Sol inclemente do verão italiano fez-me lembrar de caminhadas pelos arredores de Serra Talhada, no alto sertão pernambucano. Mas eu estava em Veneza, cercado de águas turvas, gondoleiros e japoneses. De 11 a 13 milhões de turistas visitam a cidade anualmente, mais que o dobro dos cinco milhões que desembarcam no exagerado Brasil. Lugar perfeito para sediar a mais famosa Bienal de Arte do mundo.
O Sol inclemente do verão italiano fez-me lembrar de caminhadas pelos arredores de Serra Talhada, no alto sertão pernambucano. Mas eu estava em Veneza, cercado de águas turvas, gondoleiros e japoneses. De 11 a 13 milhões de turistas visitam a cidade anualmente, mais que o dobro dos cinco milhões que desembarcam no exagerado Brasil. Lugar perfeito para sediar a mais famosa Bienal de Arte do mundo.
Eu viera com o espírito armado, cheio de espinhos, fruto de uma instrução estética construída mezzo em livros, mezzo em botequins. Houve um tempo em que tive a pretensão de me tornar crítico de arte, o que me levou a consumir alguns clássicos do assunto (Crítica do Juízo, de Kant; Estética, de Hegel, além dos temidos livros de Ferreira Gullar), e toneladas de cerveja nas rodinhas e vernissages que frequentava. Tudo me levava a detonar impiedosamente as bienais de arte, que reuniam o supra-sumo da mediocridade pós-moderna.
“Se hoje um pintor espremer uma bisnaga de tinta no nariz de um crítico, ele será capaz de ver nisso o sinal de alta criatividade”, disse uma vez John Canaday, crítico do The New York Times, citado na abertura do livro de Gullar, Argumentação contra a morte da arte.
Uma vez estivemos – eu e uns amigos artistas – no lançamento do livro do Affonso Romano Santanna, cujas crônicas semanais em O Globo dedicavam-se também a meter o malho na arte conceitual, ou pelo menos nas suas vertentes mais radicais.
Os anos se passaram. Aprendi mais sobre arte e passei a enxergar certo sectarismo e exagero nas posições de Gullar e Santanna. O maior erro era generalizar, e usar somente exemplos antigos na justificação das teses, omitindo nomes como Rauschenberg, Joseph Beuys, Basquiat e os artistas conceituais cujas obras consideravam válidas. Mas eu ainda aprovava o ponto de vista essencial deles: mesmo a arte mais friamente conceitual não poderia deixar de lado preocupações estéticas quanto à luz, cor, densidade, forma; enfim, não poderia pôr de lado o prazer estético. Parodiando Vinicius: me desculpem as obras feias, mas a beleza ainda é fundamental. Entende-se por beleza, naturalmente, não as convenções efêmeras da moda, mas aqueles princípios psíquicos básicos, intuitivos, envoltos em mistério, que produzem uma hierarquia inevitável em que Noel Rosa e Pixinguinha figuram no topo.
Enfim, eis-me na Bienal de Veneza, com um criticismo arraigado, mas o espírito aberto. Havia exposições espalhadas por toda a cidade, e o espaço principal encontrava-se no Giardino, um parque arborizado situado numa das extremidades da cidade. Grandes pavilhões foram construídos para abrigar as exposições, cada um para um país diferente. Logo de entrada, deparamo-nos com uma enorme máquina, uma espécie de trator gigante, mas com seu sistema de eixos servindo para fazer funcionar uma esteira de exercício no topo, com um homem a usá-la. A máquina produzia um barulho infernal. Era uma imagem impactante, que um crítico de arte poderia sem muita dificuldade usar como mote de longos textos teóricos.
Perto dali havia o pavilhão de Israel. Uma de suas obras consistia numa série de tubulações que não levavam a lugar nenhum. Vimos um vídeo com um par de botas plantado numa paisagem invernal, filmada ao longo de um tempo relativamente longo; o clima muda, o gelo começa a derreter, as botas mergulham, uma a uma, no lago enfim descongelado. Lembro-me também de fotos de uma ponte de sal construída numa área fronteiriça, ligando territórios de Israel e Palestina, um trabalho mais abertamente político.
Seguimos para o pavilhão brasileiro, onde o artista homenageado era Artur Barrio, com trabalhos seus dos anos 1960, na época em que fotografava sacos ensanguentados e sujos, que ele mesmo jogava em terrenos baldios, valas abertas, ou na calçada de ruas movimentadas. Junto a essas fotos, há uma espécie de editorial, escrito pelo próprio Barrio, com expressões que hoje mais parecem irônicas do que rebeldes: “contra as categorias de arte / contra os salões / contra as premiações / contra os júris / contra a crítica de arte”. Também de Barrio, numa seção mais contemporânea, vimos uns peixes empalhados, com leve cheiro de podre, meio enterrados em caixas de areia.
O pavilhão do Egito era um dos mais interessantes. Os curadores montaram uma sala com vídeos das manifestações da Praça Tahir, intercalados com performances do artista Ahmed Basiony, considerado um mártir da recente “revolução” ocorrida no país. Foi assassinado pela repressão governamental enquanto participava, junto com milhares de outros egípcios, dos protestos contra a ditadura.
Vimos ainda muitos outros trabalhos, dentro e fora do Giardino. A crítica de Gullar ao espírito cadavérico e decadente da Bienal de Veneza, assim como de quase todas as bienais do gênero, ainda é válida. A maior parte das obras são insossas, juvenis, enfadonhas. Mesmo a obra do genial Barrio dilui-se naquele contexto acadêmico, como se ouvíssemos Rolling Stones, baixinho, num salão de chá às cinco da tarde, as letras e a melodia mal compreendidas em meio ao tagarelar das madames.
Em sua eterna busca pela novidade, as vanguardas artísticas tornaram-se guardiãs de uma espécie disfarçada de conservadorismo global, sob a liderança totalitária de meia dúzia de curadores.
Não se trata de atribuir uma função política à arte, noção hoje ultrapassada, e que, ironicamente, é justamente o galho ao qual os artistas de Bienal costumam se agarrar, tentando se desvencilhar do vazio estético a que seu conceitualismo excessivamente racional os conduziu. Todos tentam fazer obras “políticas”, mas o resultado é infantil, melancólico, ineficaz, contraproducente.
“Avaliar é criar. Ouvi, criadores! Avaliar é o tesouro e a joia de todas as coisas avaliadas. Pela avaliação se dá o valor; sem a avaliação, a noz da existência seria oca. Ouvi-o, criadores!” As palavras de Zaratustra, personagem de Nietzsche, podem ser lidas também ironicamente nos dias de hoje. A indústria de bienais transformou os curadores em seus verdadeiros e talvez únicos autênticos artistas. E, no entanto, o problema não é haver quem avalie as obras, e sim o fato de tão poucos o fazerem. O problema é a oligarquização da crítica.
Em que isso interessa ao Brasil, ao povo brasileiro? Interessa muito! Trata-se de conquistar a soberania (no sentido aqui mais de excelência nacional do que de nacionalismo) na avaliação de sua produção de símbolos. Trata-se de democratizar, de alguma maneira, os processos de avaliação estética – com o que reencontramos, de má vontade, um velho conhecido nosso: o monopólio midiático. Jamais a classe artística ficou tão dependente da boa vontade de um punhado de jornalistas (a maioria sem sequer nenhuma formação ou vivência) travestidos de críticos de arte enfurnados, como numa fortaleza, nas grandes empresas de comunicação.
A Bienal de Veneza deveria ser apenas uma opção turística a mais. Aliás, pensando bem, já está se tornando isso. O poder das bienais tem diminuído em prol de uma hierarquia ainda mais cínica, como se pôde ver na euforia cafona com que a mídia e mesmo pretensos intelectuais da arte trataram o sucesso “comercial” de uma grande feira realizada na zona portuária do Rio.
O problema, portanto, não são as Bienais. E com isso eu me afasto de qualquer postura rancorosa. Chatas ou não, elas constituem eventos marcantes no calendário das artes mundiais. Nem a arte jamais morreu. O que morreu parece ter sido a crítica, dando espaço para que o debate estético seja monopolizado por pseudointelectuais submissos ao conservadorismo da mídia de massa.
Este conservadorismo, porém, não significa um fechar de portas às vanguardas. Ao contrário. Desde o clássico de Buckart que sabemos que a tirania procura o talento para se legitimar. A mídia se pretende um tirano liberal e esclarecido no campo das artes, e com isso obtém o apoio explícito ou tácito das classes artísticas. O conservadorismo se deve ao exíguo espaço destinado ao debate de ideias e, sobretudo, à inexistência de investimentos em especialistas independentes.
O resultado de tudo isso é a uniformização conservadora das classes médias e sua pauperização ideológica. Elege-se a “indignação” como um valor quase revolucionário, ao invés de se fomentar o humanismo e o enriquecimento cultural. No máximo, dão espaço para pedantes aterrorizarem os leigos com textos herméticos sobre arte. Os escritores, que antigamente gostavam tanto de fazer essa ponte entre as obras de arte e o público, hoje se tornaram tímidos, medrosos, limitando-se a publicar receitas culinárias nos cadernos culturais. Na tentativa de fazer um caderno de cultura liberal numa publicação de cunho conservador, promove-se uma separação forçada entre as artes e os demais assuntos. A arte é uma esfera independente da política, mas a crítica de arte não pode sê-lo. A crítica tem de ser livre, e desta liberdade dependerá, no fim das contas, a construção de uma política soberana e eficaz, nos âmbitos público e privado, de apoio à criação artística.
* Publicado originalmente no site da Revista Fórum.