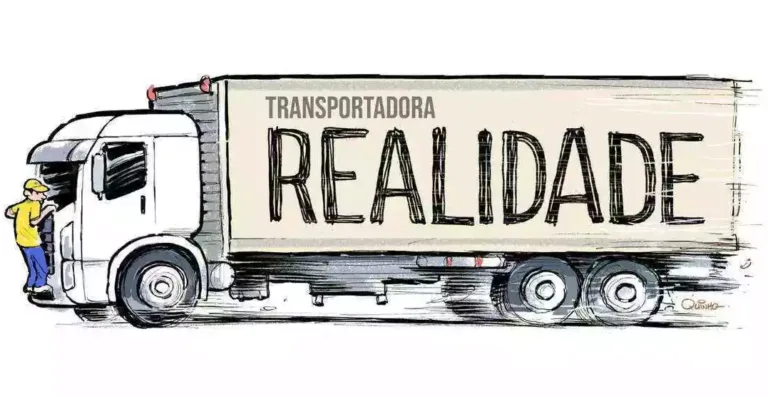Esta foi a expressão utilizada por uma moradora de Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, em entrevista concedida à reportagem do Estadão na semana passada, sobre o lugar onde vive. No maior aglomerado de conjuntos habitacionais do país, vivem 147 mil pessoas, em quase 40 mil apartamentos populares, exclusivamente de baixa renda, que foram construídos a partir dos anos 1980 na extrema periferia da cidade, sem espaços comerciais, sem equipamentos públicos, com precaríssimas opções de transporte e mobilidade. Em suma: moradia sem cidade.
Trinta anos depois, o comércio que existe hoje funciona nos puxadinhos feitos pelos moradores e a população do bairro aguarda que algum dos sucessivos anúncios de chegada de transporte coletivo de qualidade – metrô, fura-fila, monotrilho? – seja implantado. Sem dúvida, o caso de Cidade Tiradentes é uma situação extrema. Mas, infelizmente, este continua sendo o modelo que tem caracterizado a produção habitacional popular em todo o país. O resultado, como não podia deixar de ser, é absolutamente perverso: “favelização”, formação de guetos e reforço do apartheid social.
Qual o pecado original dessa política? São, pelo menos, dois: o fato de se tratar de uma política de moradia e não de cidade, e a proposta de homogeneidade social. A localização e a relação com a cidade já construída é o ponto fundamental de enlace entre estes dois aspectos, já que, dependendo de onde são construídos, os conjuntos podem ou não ter acesso a equipamentos, serviços e empregos. A localização determina, inclusive, a possibilidade ou não de uma heterogeneidade social.
Mas seria inexorável a baixíssima qualidade urbanística da moradia popular? De forma alguma. Mesmo no Brasil, nem sempre foi assim. No livro Os Pioneiros da Habitação Social, ainda inédito, o urbanista Nabil Bonduki mostra que muitos projetos dos IAPs (Instituto de Aposentadoria e Pensão), dos anos 1930 e 1940, eram de altíssima qualidade urbanística e arquitetônica. Além disso, ao longo das últimas décadas, existiram vários projetos qualificados e generosos, construídos por autogestão dos próprios beneficiários, com apoio de assessorias técnicas e com custos tão baixos quanto o dos modelinhos Cohab e CDHU.
E hoje? O Programa Minha Casa Minha Vida, baseado não mais na produção das companhias públicas, mas em produtos de construtoras privadas, está conseguindo enfrentar este tema? Pelo andar da carruagem, parece que continuamos reproduzindo os mesmos erros: o modelo é centrado apenas na construção de unidades habitacionais, sem que áreas comerciais, equipamentos públicos (de saúde, educação e lazer, por exemplo) e políticas de transporte público sejam parte dos projetos. Sem que a equação da localização tenha sido enfrentada…
Além disso, apesar de prever um limite de tamanho máximo para os conjuntos habitacionais, de 500 unidades, o Minha Casa Minha Vida não tem controle sobre o somatório dos projetos das construtoras, que acabam construindo conjuntos muito próximos uns dos outros, gerando – sem querer – enormes conglomerados homogêneos… Parece que já vimos esse filme: Cidade Tiradentes, o retorno?
* Raquel Rolnik é urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e relatora especial da Organização das Nações Unidas para o direito à moradia adequada.
** Publicado originalmente no Yahoo! Colunistas e retirado do Blog da Raquel Rolnik.