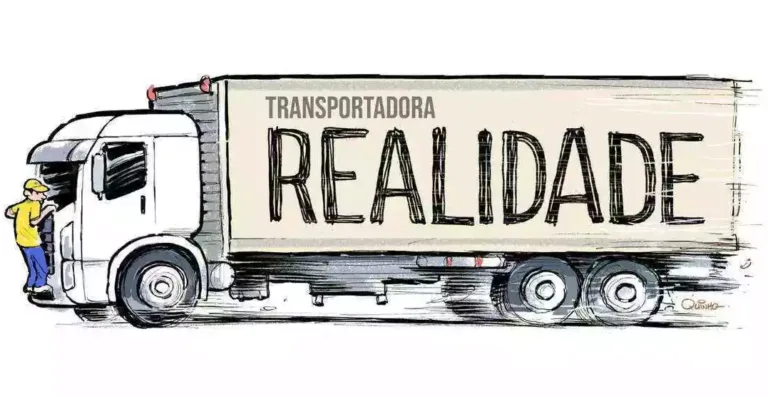“São tanto mais de admirar e até de maravilhar essas qualidades de medida, de tato, de bom gosto, em suma de elegância, na vida e na arte de Machado de Assis, que elas são justamente as mais alheias ao nosso gênio nacional e, muito particularmente, aos mestiços como ele. (…) Mulato, foi de fato um grego da melhor época, pelo seu profundo senso de beleza, pela harmonia de sua vida, pela euritmia da sua obra.”
O trecho acima é de um artigo do jornalista, professor, crítico e historiador literário José Veríssimo, em artigo no Jornal do Comércio, um mês depois da morte de Machado. Causou espanto em muita gente, inclusive em Joaquim Nabuco, que lhe enviou uma carta: “Seu artigo no jornal está belíssimo, mas essa frase causou-me arrepio: ‘Mulato, foi de fato um grego da melhor época’. Eu não teria chamado o Machado mulato (itálico no original) e penso que nada lhe doeria mais do que essa síntese. Rogo-lhe que tire isso quando reduzir os artigos a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa, basta ver-lhe a etimologia. O Machado para mim era um branco, e creio que por tal se tornava (sic); quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu pelo menos só vi nele o grego. O nosso pobre amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento à glória com a devassa sobre suas origens”. É interessante perceber que o que causa espanto a Nabuco é Veríssimo ter chamado Machado de mulato, e não ter dito que as qualidades de medida, tato, bom gosto e elegância, na vida e na arte, eram alheias aos mestiços como ele, um neto de escravos. Pensamento condizente com um governo brasileiro que discutia a nossa condenação ao atraso e à pobreza de espírito, adquirida via mestiçagem. A solução seria tentar reproduzir, nos trópicos, a pureza de sangue europeia, sonho de consumo antigo das elites portuguesa, na época do Brasil colônia, e brasileira, pelo que parece, até os dias atuais.
A ideia de embranquecimento dos brasileiros é antiga, e muitos eram abolicionistas não por questões humanitárias, mas porque acreditavam ser necessário estancar o quanto antes a introdução de sangue negro entre os nacionais. Em um ensaio publicado em Lisboa, em 1821, o médico e filósofo Francisco Soares Filho aponta a heterogeneidade do Brasil como o grande empecilho para o país se tornar um Estado moderno: “Hum povo composto de diversos povos não he rigorosamente uma Nação; he um mixto de incoherente e fraco”. O livro de Andreas Hofbauer, Uma história do branqueamento ou o negro em questão, transcreve vários trechos do artigo de Francisco Soares Filho, Ensaio sobre os melhoramentos de Portugal e do Brasil, entre os quais destaco o que fala da necessidade e das vantagens de se promover a miscigenação controlada.
“Os africanos, sendo muito numerosos no Brasil, os seus mistiços o são igualmente; nestes se deve fundar outra nova origem para a casta branca. (…) Os mistiços conservarão só metade, ou menos, do cunho africano; sua côr he menos preta, os cabellos menos crespos e lanudos, os beiços e nariz menos grossos e chatos, etc. Se elles se unem depois à casta branca, os segundos mistiços tem já menos da côr baça, etc. Se inda a terceira geração se faz com branca, o cunho africano perde-se totalmente, e a côr he a mesma que a dos brancos; às vezes inda mais clara; só nos cabellos he que se divisa huma leve disposição para se encresparem. (…) E deste modo teremos outra grande origem de augmento da população dos brancos, e quasi extinção dos pretos e mistiços desta parte do mundo; pelo menos serão tão poucos que não entrarão em conta alguma nas considerações do Legislador.”
Hofbauer também cita o artigo de António d’Oliva de Souza Sequeira, Addição ao projeto para o estabelecimento politico do reino-unido de Portugal, Brasil e Algarves, de 1821, no qual, além de reforçar as ideias do benefício da mestiçagem de seu conterrâneo, aponta a necessidade de promover a imigração: “Como o Brasil deve ser povoado da raça branca, não se concederão benefícios de qualidade alguma aos pretos, que queirão vir habitar no paiz. (…) E como havendo mistura da raça preta com a branca, (…) terá o Brasil, em menos de cem annos todos os seus habitantes da raça branca. (…) Havendo casamentos de brancos com indígenas, acabará a côr cobre; e se quizerem apressar a extinção das duas raças, estabeleção-se premios aos brancos, que se casarem com pretas, ou indígenas na primeira e segunda geração: advertindo, que se devem riscar os nomes de ‘mulato, crioulo, cabôco’ e ‘indígena’; estes nomes fazem resentir odios, e ainda tem seus ressaibos de escravidão (…) sejão todos ‘Portuguezes!’”.
(Um breve parênteses: não sei se sou apenas eu que consigo ver semelhanças entre o discurso acima, de 1821, com o de “esqueçamos isso de brancos, negros, amarelos, etc.… somos todos brasileiros!”, muito comumente encontrados em artigos de Ali Kamel, Demétrio Magnoli e Yvonne Maggie, por exemplo, apoiados pelo requentamento da teoria da mestiçagem, feito por Gilberto Freyre.)
A ideia de que, em cem anos, os brasileiros seriam todos brancos, foi atualizada em 1911 por João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional. Nessa época o cientificismo já tinha biologizado o conceito de raça, e o racismo brasileiro se dividia entre duas correntes de pensamento. A segregacionista, que dizia que a mestiçagem já nos tinha posto a perder e que nunca seríamos uma nação desenvolvida; e a assimilacionista, que apostava na salvação por meio do processo de branqueamento, com imigrantes europeus. Apostando sempre no seu povo, essa última tornou-se a posição oficial do governo brasileiro, que tentava vender, no exterior, a ideia de um país com grande futuro à espera dos europeus; ou à espera de europeus, para ser mais exata. Participávamos de feiras e congressos internacionais, disputando imigrantes com Argentina, Chile e Estados Unidos, e o discurso de Lacerda, representante brasileiro no I Congresso Universal de Raças, em Londres, tenta aplacar o medo dos europeus de compartilharem o Brasil com uma raça inferior: “(…) no Brasil já se viram filhos de métis (mestiços) apresentarem, na terceira geração, todos os caracteres físicos da raça branca (…). Alguns retêm uns poucos traços da sua ascendência negra por influência dos atavismos (…) mas a influência da seleção sexual (…) tende a neutralizar a do atavismo, e remover dos descendentes dos métis todos os traços da raça negra (…) Em virtude desse processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso de mais um século os métis tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio”.
A elite intelectual brasileira, formada por literatos, políticos, cientistas e empresários, indignada com as declarações do diretor do Museu Nacional, foi debater nos jornais e revistas. Alguns clamavam que cem anos era um absurdo de tempo, que o apagamento do negro se daria em muito menos. Outros debochavam do otimismo de Lacerda, como o escritor Silvio Romero, que acreditava que o processo, que todos concordavam ser irreversível, levaria, pelo menos, uns seis ou oito séculos. Mas todos concordavam que era apenas uma questão de tempo, desde que o Brasil continuasse a promover a entrada de brancos europeus, a não fazer nada para integrar os negros que já estavam no país ou para baixar a taxa de mortalidade entre eles, e a dificultar a entrada de novos africanos. De fato, o governo brasileiro financiou a vinda de imigrantes europeus, não fez absolutamente nada que ajudasse escravos e libertos, e proibiu a entrada de africanos. Um decreto de 28 de junho de 1890 diz que estava proibida a entrada de africanos no Brasil, e é reforçado por outros em 1920 e 1930, quando os banidos não necessariamente precisam ser africanos, mas apenas parecer. Em 1945, um decreto lei não mais proíbe, mas diz que:

Art. 1o – Todo estrangeiro poderá entrar no Brasil desde que satisfaça as condições estabelecidas por essa lei.
Art. 2o – Atender-se-á, na admissão de imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional.
Tal decreto, me parece que foi revogado apenas em 1980. Mas as “características mais convenientes” da nossa ascendência europeia ainda são as desejáveis e estimuladas pelo governo, como nos mostra, exatamente cem anos depois do pronunciamento de João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, esse comercial da Caixa Econômica Federal (ver comercial do mês de setembro).
O fato mais visível é o branqueamento de Machado de Assis. Sobre esse assunto, que é longo e complexo, sugiro a entrevista com o professor Eduardo de Assis Duarte e, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a leitura de seu livro Machado de Assis Afrodescendente: Escritos de Caramujo. Veríssimo, atendendo ao apelo de Nabuco, nunca incluiu o artigo em seus livros; e para acabar com qualquer dúvida quanto à mulatice, a certidão de óbito de Joaquim Maria Machado de Assis diz que o grande escritor, da “cor branca”, faleceu de “arteriosclerose”. Questionada pelo ato falho, a assessoria de imprensa da Caixa se manifestou, dizendo que “o banco sempre se notabilizou pela sua atuação pautada nos princípios da responsabilidade social e pelo respeito à diversidade. Portanto, a Caixa sempre busca retratar em suas peças publicitárias toda a diversidade racial que caracteriza o nosso país”. Mas há também outro fato interessante no universo europeizado do comercial: no Rio de Janeiro de 1908, circulam apenas brancos. O comercial, assinado por “Caixa – 150 anos” e “Governo Federal – País rico é país sem pobreza”, apaga completamente as presenças negra e mestiça da capital federal do início do século. Tais atitudes colocam o governo como propagador e vítima das políticas oficiais de branqueamento da população e de ensino deficiente, voltado para o descaso com o esquecimento do passado escravocrata brasileiro. Tivessem os profissionais envolvidos na criação, produção e aprovação de tal comercial estudado um pouco mais a vida dos africanos no Brasil, não teriam cometido erros tão banais. E tão graves, porque em nome de um governo e de uma instituição que diz ter uma história construída por todos os brasileiros, mas que parece, nesse caso, retratar apenas aqueles brasileiros que sempre foram mais brasileiros do que os outros. A nossa desigualdade entre iguais.
Tivessem esses profissionais dado uma olhada nos levantamentos demográficos da época (embora “raça” não tenha entrado nas estatísticas entre 1890 e 1940 – porque “éramos todos brasileiros”…), ou nas crônicas publicadas em jornais e revistas da época, ou o interesse de conhecerem um pouco melhor o assunto em questão, saberiam que a população negra e mestiça do Rio de Janeiro deveria ser, no mínimo, 30% a 40% do total, mas aparentava ser muito mais. A então capital federal, onde já era numerosa a presença de escravos e libertos, recebeu grandes contingentes de negros e mulatos após a assinatura da Lei Áurea, chegados das áreas rurais e de diversas partes do Brasil. Eles eram, então, a maioria a circular pelas ruas, em busca de emprego, que não havia, ou fazendo bicos, tentando se adaptar à nova realidade. Uma “sociedade movediça e dolorosa”, como nos contam as crônicas de João do Rio, entre tantas outras tão fáceis quanto de achar, caso houvesse interesse.
E por falar em “movediça e dolorosa”, é interessante também perceber como o governo retrata os escravos em outro comercial (ver mês de maio) referente à comemoração dos 150 anos da Caixa, o “Libertos”.
O comercial nos faz acreditar que a “poupança dos escravos” havia sido uma iniciativa progressista da Caixa quando, na verdade, foi um retrocesso nas “leis informais” que regulavam as iniciativas de compra de liberdade, e uma forma de o governo brasileiro, já no final da escravidão, lucrar um pouco mais com a exploração do trabalho escravo. Há um estudo interessante sobre essa poupança, A poupança: alternativas para a compra da alforria no Brasil (2ª metade do Século 19), da historiadora e professora Keila Grinberg, que vou tentar resumir aqui, em meio a outras informações. É importante entender o cenário em que a “poupança dos escravos” foi lançada.
Após a Revolução Industrial, a Inglaterra buscava novos mercados consumidores para seus produtos e, vendo a escravidão com um dos grandes entraves, promulgou unilateralmente o Slave Trade Suppression Act de 1845, conhecido no Brasil como Bill Aberdeen. O ato considerava como sendo pirataria o comércio de escravos entre a África e as Américas, e a Inglaterra poderia abordar qualquer navio em atividade suspeita e liberar a carga humana. Muitos desses africanos foram levados para colônias inglesas no Caribe, onde trabalharam sob condições bem parecidas com a escravidão. Vários navios brasileiros foram aprendidos e destruídos, gerando uma série de incidentes diplomáticos que, em conjunção com outros fatores, levaram o Brasil a parar com o tráfico. Na verdade, a pressão era para que o Brasil obedecesse a Lei Feijó, também conhecida como “lei para inglês ver”, promulgada em 7 de novembro de 1831, que dizia:
A Regência, em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, faz saber a todos os súditos do Império, que a Assembleia Geral decretou, e ela sancionou a Lei seguinte:
Art. 1. Todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres.
Essa lei nunca foi obedecida e precisou ser reforçada com a Lei Eusébio de Queirós, aprovada em 4 de setembro de 1850:
Art. 1: As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros ou mares territoriais do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação é proibida pela lei de 7 de novembro de 1831, ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades, ou pelos navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. Aquelas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente desembarcado, porém que se encontrarem com os sinais de se empregarem no tráfego de escravos, serão igualmente apreendidas e consideradas em tentativa de importação de escravos.
Inicialmente, a Lei Eusébio de Queirós também teve pouquíssimo efeito, fazendo inclusive com que o tráfico se intensificasse. Como a vida útil de um escravo era curta, e as condições dos cativeiros brasileiros nunca foram ideais para a reprodução, como acontecia, por exemplo nos Estados Unidos, os exploradores de trabalho escravo trataram de garantir um bom estoque de peças, começando a pensar, inclusive, que a escravidão, algum dia, poderia ter fim. Quando a Inglaterra intensificou o controle nos mares, começou então o aumento do comércio interno, com as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, ancoradas na lucrativa economia cafeeira, importando peças do Norte e Nordeste. Possuir escravos que se tornavam cada vez mais caros, então, começou a ser coisa de “gente grande”, com a diminuição da entrada de peças de reposição e a crescente demanda da indústria cafeeira, base da economia brasileira da ápoca. O Brasil passava por grandes transformações, e outras duas leis importantes também foram promulgadas em 1850, a Lei das Terras e a Lei do Código Comercial, ambas com profundas ligações com a escravatura.
Começando a se pensar pela primeira vez em um Brasil sem escravos, a Lei das Terras defendia os interesses dos grandes latifundiários, garantindo-lhes o direito de regularizar a posse das terras que ocupavam. As terras não ocupadas passaram a ser do Estado e só poderiam ser adquiridas em leilões, com pagamento à vista, impossibilitando que ex-escravos (e possíveis colonos, porque já se discutia uma política de imigrações), quando libertados, se tornassem proprietários por meio de ocupações.
O Código Comercial regulamentava a criação de sociedades anônimas e comerciais, uma necessidade por causa das reorientações na economia brasileira. Não tendo mais condições de comprar escravos, a gente “média” e “miúda” começou a ter outras necessidades de crédito e a se interessar por outros bens de consumo, aumentando a importação de bens estrangeiros. Em 1851, por exemplo, surgiu no Rio de Janeiro o Banco do Commercio e da Indústria que, junto com outros bancos, passou a receber depósitos e a emprestar dinheiro. Foi esse banco que, em 1853, depois de uma fusão com o Banco Commercial do Rio de Janeiro, deu origem ao Banco do Brasil. Segundo Keila Grinberg, “(…) Com isso, o crescimento das atividades comerciais no país, devido principalmente à prosperidade dos negócios do café, foi facilitado pelo aumento da emissão de moeda, e pela autorização, por parte do governo imperial, da realização de várias operações comerciais pelos bancos”. Em 1857, já havia vários bancos oferecendo esses serviços, mas a crise no setor cafeeiro e o grande número de instituições privadas, levou o governo a centralizar a atividade bancária, principalmente as de poupança e crédito, com a Lei dos Entraves, de 1860. Foi por essa lei que o Governo Imperial criou a Caixa Econômica, que entrou em atividade em 1861 como o primeiro banco que receberia “as pequenas economias das classes menos abastadas”, nos moldes de várias instituições privadas de grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa.
As Caixas prestariam os serviços de depósito em poupança e de empréstimos tendo como garantia a penhora de bens. Com isso, o governo buscava “centralizar no Estado as economias dos poupadores, de pequenos a grandes, de modo que o montante arrecadado pudesse contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura do país, como aconteceu nos Estados Unidos, onde a poupança alavancou o investimento em ferrovias, centros de tratamento de água e esgoto, e canais”. A princípio, a arrecadação não foi muito grande, ao contrário da procura por empréstimos, e só melhorou um pouco a partir de 1864, com a quebra de várias instituições concorrentes.
A Lei do Ventre Livre, de 1871, reconheceu, entre outras coisas, o direito do escravo formar pecúlio. Na verdade isso já acontecia havia muito tempo. Escravos se reuniam em associações (Juntas ou Irmandades) autorregulamentadas e contribuiam para um fundo comum que, entre outras coisas, servia para a compra de cartas de alforrias de seus associados. A novidade da lei é que, diferente do que acontecia antes, se o escravo tivesse dinheiro suficiente, a carta de alforria não poderia mais ser negada pelo seu dono. A Caixa Econômica então passou a aceitar depósitos de escravos, mas a caderneta de poupança teria que ser aberta em nome dos seus donos, porque o decreto de fundação, de 1861, dizia: “Não serão admittidos, como depositantes ou abonadores, os menores, escravos, e mais indivíduos que não tiverem a livre administração de sua posse e bens”.
E para que o escravo tivesse certeza disso, de que não era dono daquele dinheiro e daquela “poupança do escravo”, Keila Grinberg nos conta que “todas as cadernetas de escravos eram riscadas onde aparecia a palavra ‘senhor’ antes do espaço destinado à redação do nome do poupador. Para que não restasse dúvidas de que poupar não fazia de nenhum escravo, um senhor”.
Isto significa que a “poupança dos escravos” criada pela Caixa Econômica Federal não é nenhuma novidade entre as modalidades de se juntar dinheiro para a compra da carta de alforria, e ainda é um retrocesso, no sentido de proibir depósitos em nome de escravos. Caixas Econômicas não estatais, surgidas na década de 1830 na Bahia, em Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, seguindo o modelo das caixas existente em outros países escravistas das Américas, não tinham essa proibição. Então, o que a Caixa Econômica Federal fez, em 1872, ao oficializar a “poupança dos escravos”, foi permitir e reafirmar que o controle do dono sobre o escravo, com a tutela do Estado, fosse exercido inclusive sobre algo que, de comum acordo entre dono e escravo poderia ficar, anteriormente, sob a responsabilidade do escravo. Antes de oficializar essa proibição, inclusive, a própria Caixa “aceitava” depósitos de escravos, como prova a existência da caderneta de poupança de número 12.729: “mesmo à margem da lei, entre 1867 e 1869, a escrava Luiza depositou religiosamente cinco mil réis por mês com o aval de D. Antonia Luiza Simonsen, sua senhora’, escreve Grinberg. A poupança dos escravos de ganho coloca-os novamente sob a tutela de seus senhores.

Luiz Carlos Soares nos dá uma ideia da vida de um escravo de ganho no Rio de Janeiro, em sua tese Urban Slavery in Nineteenth Century Rio de Janeiro: “Uma parcela considerável desses cativos (que andavam pelas ruas do Rio) era constituída pelos escravos de ganho. Estes desenvolviam as mais diversas modalidades de comércio ambulante, carregando as suas mercadorias em cestos e tabuleiros à cabeça, ou transportavam, sozinhos ou em grupos, os mais variados tipos de cargas, ou ainda ofereciam os seus serviços em quaisquer eventualidades, até mesmo no transporte de pessoas em seus ombros pelas ruas da cidades nos dias chuvosos ou carregando em suas cabeças barris com os dejetos das residências que à noite eram jogados ao mar”. Profissões mais especializadas, como sapateiros, barbeiros, joalheiros, ou até mesmo mendicância e prostituição, estavam entre as atividades exercidas pelos escravos de ganho. São esses os escravos retratados no comercial “Liberdade” da Caixa, todos saudáveis, “higienizados”, sorridentes e bem tratados. A realidade, no entanto, era bem outra. Alguns realmente conseguiam se dar bem, sendo capazes de juntar boa quantidade de dinheiro; mas eram exceções. O que valia a pena, nessa modalidade, era o escravo ter um pouco mais de liberdade em relação aos escravos rurais ou domésticos, sob maior vigilância. Os escravos de ganho eram mandados para a rua por seus senhores, onde deveriam trabalhar para pagar o “jornal”, ou seja, uma quantia diária, semanal ou mensal estipulada pelo dono. Era o excedente desse jornal, se houvesse, que os escravos poderiam poupar para empregar no que bem quisessem, desde o complemento à alimentação deficiente, roupas, aluguel de um cômodo para morar longe do senhor, ou a carta de alforria. E era esse excedente que, em nome do dono, poderia ser depositado na “poupança dos escravos”, na esperança de, um dia, ser suficiente para comprar a liberdade; o que se tornava cada vez mais difícil.
A partir de 1850, com a venda maciça de escravos para as zonas cafeeiras, o número de escravos diminuiu consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro. O recenseamento realizado em 1872, ano de lançamento da poupança de escravos, conta que eles eram, ao todo, 37.567, dos quais 5.785 eram criados (escravos de aluguel para serviços domésticos) e jornaleiros (de ganho). Escravos de ganho já não eram bom negócio. Em alguns setores mais lucrativos, como o de transporte, eles estavam perdendo espaço para trabalhadores livres, melhor organizados e de melhor aparência; em sua maioria imigrantes pobres portugueses. Este é o cenário quando a Caixa Econômica Federal decide aceitar dinheiro de trabalho escravo – desde que em nome dos donos, é sempre bom lembrar. Com a alta sucessiva do preço, e com seus donos usando métodos legais e ilegais para manter os escravos que possuíam, as compras de cartas de alforria se tornaram raríssimas depois da Lei de 1871. “Que não restem dúvidas: a alforria custava caro. Para se ter uma ideia, entre 1860 e 1865, o preço médio pago por um escravo para ficar livre variou entre 1:350.000 réis e 1:400.000 réis, mas chegou a mais de 1:550.000 réis em 1862. Evaristo, depois de três anos de poupança acumulou irrisórios 8.100 réis. Luiza, aquela que depositava com consentimento da sua senhora Antonia Luiza Simonsen, chegou a pouco mais de 200.000 réis”, lembra Grinberg.
Provavelmente, foram raríssimos os que conseguiram comprar suas cartas de alforria por meio das cadernetas dos escravos, como a escrava Joana do comercial. Aplicados no banco, os recursos destinados à compra de sonho serviam para aumentar os lucros da Caixa que, segundo o estatuto de criação, podia utilizar o dinheiro das poupanças para fazer empréstimos, a juros, por meio do Monte de Socorro, com as penhoras. Talvez isso também pudesse ser chamado de exploração de mão de obra escrava. Da qual, hoje, a Caixa se orgulha, a ponto de apresentar como um dos grandes feitos a ser comemorado em seus 150 anos de existência. Ironicamente, ou não – pois realmente quero acreditar que é fruto da profunda ignorância histórica e da falta de sensibilidade –, o confessional foi exibido no mês de maio, para ser potencializado e remetido à Lei Áurea. Coisas da propaganda, que talvez pudesse ser usada para nos responder duas perguntas.
– O que foi feito do dinheiro dessas cadernetas de poupança quando aconteceu a abolição? O dinheiro era dos escravos, o excedente do que tinham que pagar ao dono, mas não estava no nome deles. Eles conseguiram recuperar essas economias?
– Em 1872, quando foi criada a “caderneta dos escravos”, dirigida aos escravos de ganho, já fazia 41 anos que o tráfico atlântico de escravos estava proibido. Visto que a maioria dos escravos de ganho era composta por africanos (Luiz Carlos Soares nos informa que, na segunda metade do 19, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, dos 2.869 pedidos de concessão de licença para trabalhar ao ganho, 2.195 eram para africanos), a Caixa, antes de aceitar a abertura das cadernetas, checava se tinham entrado legalmente no Brasil (é bom lembrar que, em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de 33,4 anos, sendo a dos escravos bem menor que a dos não escravos), ou era cúmplice dos que tinham sequestrado, capturado e mantido ilegalmente africanos em cárcere privado e trabalhos forçados, conforme as leis de 1831 e 1850?
Seria bom que a Caixa Econômica Federal investigasse a possibilidade de ter cometido erros e, se for o caso, se retratasse. Pelo branqueamento de Machado e por ter lucrado, talvez ilegalmente, com o dinheiro dos escravos, e fazer disso motivo de orgulho. Se não por toda a população afrodescendente brasileira, pelos seus mais de 14 mil funcionários homenageados em um belíssimo comercial comemorando o Dia da Consciência Negra.
Para que eles não se sintam usados. Para que nós não nos sintamos enganados por meras e belas campanhas de marketing. Para que este país comece a conhecer e respeitar sua História. Para que as palavras de sua assessoria não sejam propaganda enganosa: “O banco sempre se notabilizou pela sua atuação pautada nos princípios da responsabilidade social e pelo respeito à diversidade”. Que assim seja!
* Publicado originalmente no blog de Idelber Avelar, no site da Revista Fórum.