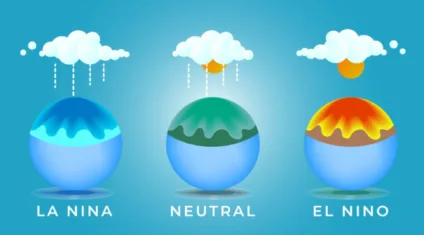Longe de representar apenas os efeitos da oferta e da demanda, a alta dos preços das commodities agrícolas mostra que a especulação e a estrutura do comércio mundial precisam ser repensadas.
 Em fevereiro deste ano, os preços mundiais dos alimentos atingiram o maior nível de uma série histórica, iniciada em 1990 e apurada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Aquele foi o oitavo mês consecutivo de alta e o índice superou o de junho de 2008, quando o planeta vivia uma crise alimentar com impressionantes elevações de preços: em três meses, o arroz, por exemplo, chegou a subir 50% e em um período menor que dois anos, o aumento chegou a 180%. Os grãos de primeira necessidade, entre março de 2007 e abril de 2008, tiveram seus preços elevados em 88%.
Em fevereiro deste ano, os preços mundiais dos alimentos atingiram o maior nível de uma série histórica, iniciada em 1990 e apurada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Aquele foi o oitavo mês consecutivo de alta e o índice superou o de junho de 2008, quando o planeta vivia uma crise alimentar com impressionantes elevações de preços: em três meses, o arroz, por exemplo, chegou a subir 50% e em um período menor que dois anos, o aumento chegou a 180%. Os grãos de primeira necessidade, entre março de 2007 e abril de 2008, tiveram seus preços elevados em 88%.
Nem mesmo a interrupção de uma sequência de oito elevações mensais, com o recuo de preços em março e o índice praticamente estável de abril, fez o cenário se tornar mais favorável. Hoje, estima-se que 925 milhões de pessoas em todo o mundo estão em situação de fome crônica. Como a organização calcula que 40 milhões de pessoas teriam passado a essa condição no período crítico de 2007-2008, os resultados dessa nova elevação de preços podem fazer com que um outro grande contingente de pessoas passe à subnutrição. Mas, afinal, o que está por trás da recente alta?
São diversos os fatores que podem explicá-la. Dois que são bastante difundidos atribuem a elevação a quebras de safras e ao aumento do consumo de alimentos no planeta. O escritor Vincent Boix, autor do livro O Parque das Redes e responsável pela área de Ecologia Social do site www.belianis.es, em um artigo da série “Crise Agroalimentícia”, usa alguns dados que desmitificam essa explicação. A FAO prevê, para o ciclo 2010-2011, que o balanço mundial entre a produção e o consumo de cereais apresente um déficit de 43,1 milhões de toneladas. No entanto, as reservas, que estariam próximas de 483 milhões, correspondem a quase 11 vezes essa diferença. No biênio 2003-2004, essa relação era de seis vezes, mesmo assim, os preços não chegavam à metade do que se apresentam agora.
“Esta crise é sistêmica, não conjuntural, e não é mera expressão de um desajuste de oferta e demanda. Há pressões de demanda, sem dúvida, tem havido também problemas de disponibilidade de alimentos em razão do insucesso de safras, mas a questão não se esgota nisso”, analisa Renato Maluf, presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). “Há um componente especulativo muito forte, sobretudo pela extrema mercantilização do comércio de commodities no mundo, a partir de instrumentos como o mercado futuro, que extrapolaram a sua função e se tornaram um elo entre as commodities e a especulação financeira em geral”, explica. “Há novos atores incidindo nesse mercado, que não são os tradicionais.”
Segundo Maluf, os objetivos da criação do mercado futuro eram justamente garantir liquidez e promover uma proteção contra a flutuação de preços, já que os preços dos produtos agrícolas estão sujeitos a sazonalidades e condições muito específicas. No entanto, hoje esse sistema funciona de forma bem distinta. Não é à toa que o estouro da crise dos subprimes e a alta de preços aconteceram na mesma época. “À medida que outras bolhas foram ‘secando’ ou rebentando (novas tecnologias, mercado imobiliário, subprime), os especuladores (fundos de investimento, hedge funds, fundos de pensões, grandes bancos) se concentraram nas commodities, incluindo os produtos alimentares. Aos olhos dos especuladores, trata-se de uma bolha difícil de ‘secar’, já que, ao contrário do que sucede com outras mercadorias mais ou menos dispensáveis, as pessoas terão sempre que comer”, pondera o biólogo português e eurodeputado João Ferreira, em artigo publicado em Odiario.info. “Muitos dos que ganham milhões especulando com os produtos alimentícios não tocam sequer num único grão de milho ou bago de arroz. A FAO estima que apenas 2% de todos os contratos de futuros resultem na entrega da mercadoria física subjacente”, aponta.
Conforme Vincent Boix, há fundamentalmente dois tipos de agentes nessa cadeia especulativa. “Os fundos de investimento, de pensões, de cobertura, etc., que, segundo o Observatório da Dívida na Globalização, ‘…compram e vendem contratos de futuros esperando tirar benefícios em qualquer uma das transações, independentemente de estes contratos se materializarem’. Depois estão os intermediários (destacando as transnacionais agroexportadoras como Cargill e Monsanto), que manejam grandes quantidades de produtos como o cacau, cereais, etc., o que lhes confere influência na oferta de alimentos, não hesitando em armazenar grandes quantidades para desabastecer o mercado e forçar uma subida de preços. Esses intermediários também especulam com contratos de futuros.” Na mesma linha, Renato Maluf também observa que o enorme poder das corporações, em todas as etapas da cadeia que leva os alimentos à mesa das pessoas, lhes dá um grande poder na definição de preços, já que permite que se apropriem do controle de parte do processo especulativo.
Desigualdade no campo
Uma outra questão que merece reflexão diante do cenário de crise alimentar é a do modelo agrícola adotado por cada país. Boix lembra uma declaração de Olivier De Schutter, relator da Organização das Nações Unidas para o Direito à Alimentação. “Os países africanos se beneficiaram de colheitas relativamente boas em 2010 e não enfrentam risco imediato. (…) Os países que importam a maior parte da comida que necessitam são mais vulneráveis. Os menos desenvolvidos compram 20% de seus alimentos, e sua conta se multiplicou por cinco ou seis desde os anos 1990. Esta dependência dos mercados internacionais é muito perigosa.”
O depoimento de De Schutter mostra algo que parece bastante óbvio: para assegurar a soberania alimentar de suas populações, os países deveriam produzir a maior parte daquilo que consomem. Mas não é isto que acontece em muitos lugares. “Vale destacar que muitos organismos, como o Banco Mundial, pressionaram e estimularam nações pobres para que apostassem na agroexportação, afogando sua própria agricultura camponesa. Também o desaparecimento das tarifas sob a ‘lógica do mercado’ facilitou que excedentes subsidiados pelos Estados Unidos penetrassem em países pobres, aniquilando a produção local, o que gerou uma dependência das importações.”
Em meio à crise de 2007-2008, o Brasil sofreu menos o impacto da alta do que outros países, justamente por ter instrumentos domésticos para se proteger, embora tenha havido alteração de preços, como agora. Mas o papel desempenhado pela agricultura familiar, responsável por aproximadamente 70% da alimentação do brasileiro, foi fundamental para que a situação não fosse pior. “Muitos países asiáticos e latino-americanos em que a agricultura familiar tem baixa capacidade de produção foram mais afetados”, pontua Maluf. Mas o cenário pode se alterar em um futuro próximo, já que o modelo do agronegócio, voltado para exportação, cresce em ritmo mais rápido que a agricultura familiar.
De acordo com o relatório do Consea, divulgado em novembro de 2010, “a expansão do agronegócio e das formas privadas de apropriação dos recursos naturais a ele associadas contribuíram para acentuar a já elevada concentração da propriedade da terra no Brasil e para limitar o avanço das políticas de reforma agrária. A concentração fundiária e a morosidade na implantação da reforma agrária constituem, hoje, um dos principais obstáculos ao desenvolvimento e à consolidação dos sistemas familiares de produção rural no Brasil. O desenvolvimento da agricultura familiar e do agroextrativismo é estratégico para a soberania e a segurança alimentar e nutricional das populações do campo e da cidade”.
“A expansão do agronegócio vem sendo viabilizada com a atuação do que chamo de tríplice aliança: latifúndio-Estado-agronegócio. Nesse sentido, o agronegócio reúne o que há de mais moderno em termos tecnológicos com o que há de mais arcaico em termos de estrutura fundiária e de relações de trabalho”, avalia Christiane S. S. Campos, doutora em Geografia e professora da Universidade Federal de Santa Maria. Além de não assegurar o abastecimento interno, parte das vantagens propaladas pelo agronegócio, como a geração de empregos, deve ser relativizada.
Além de gerar menos empregos – pesquisa realizada por Rosemeire Aparecida de Almeida, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, constata que, no Estado, as áreas de menos de 50 hectares geram uma ocupação a cada 6,7 hectares, enquanto aquelas acima de mil hectares geram uma ocupação a cada 411,56 hectares –, a qualidade dos postos também não é elevada. “Em relação especificamente às condições de trabalho, observa-se que onde se expande o agronegócio se intensifica a precarização, uma vez que se reduzem os empregos fixos, se ampliam empregos temporários e se intensifica muito o ritmo de trabalho, o que amplia a quantidade e a gravidade das doenças que atingem a população trabalhadora”, explica Christiane. “Isso sem falar do contato direto dos trabalhadores com os agrotóxicos, pois à medida que cresce a produção e a produtividade agrícola, cresce o consumo dos agrotóxicos no país.”
A geógrafa realizou uma pesquisa sobre a pobreza feminina em meio à riqueza do agronegócio, baseada em um estudo de caso na cidade de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul. Ela entrevistou empregadores de diferentes segmentos da cadeia produtiva da soja no Município, e os resultados mostraram que as desigualdades geradas por esse tipo de monocultura em larga escala se dão em diferentes níveis. “O perfil do emprego gerado pelo agronegócio pode ser sintetizado em quatro palavras: masculino, formal, temporário e precário. É masculino porque 78% dos postos de trabalho gerados pelos empregadores entrevistados eram ocupados por homens. É formal porque 97% dos empregos tinham contrato de trabalho. É temporário porque 66% dos empregos são oferecidos por um período predeterminado, geralmente de três meses. É precário devido ao curto período de tempo da maioria das vagas e à baixa remuneração para a maior parte das funções, especialmente no caso das mulheres.”
Os dados colhidos por Christiane levaram à constatação de que, em Cruz Alta, o agronegócio contribui decisivamente para retroalimentar a pobreza, mas não de forma homogênea. As mulheres têm muito mais dificuldade de se inserir no mundo do trabalho em um território do agronegócio como a cidade gaúcha. A justificativa dos empregadores é que os postos gerados são de “serviço pesado”. Entretanto, mesmo os cargos de vendedores, gerentes, entre outros que não exigem força muscular, são, na sua quase totalidade, ocupados por homens. “Ironicamente, entre os postos que as mulheres conseguem vaga estão o trabalho agrícola temporário e os serviços de limpeza nas empresas, que não podem de maneira alguma ser caracterizados como ‘serviço leve’”, explica.
A pesquisa mostra também que há uma segregação ocupacional por gênero, já que as mulheres se concentram em funções sem poder de tomada de decisão, além da desigualdade salarial, apesar de elas terem melhor escolaridade. “Nos locais pesquisados, a maior parte dos homens recebe entre dois e cinco salários mínimos. No caso das mulheres, a maioria dos estabelecimentos paga entre um e dois salários mínimos. Há inclusive empresas em que o salário das trabalhadoras não chega ao mínimo nacional”, conta Campos. “Com base nesses dados e em estudos realizados por pesquisadoras em outras cadeias do agronegócio, como a cana em São Paulo e a fruticultura irrigada em Estados do Nordeste do país, concluímos que onde se territorializa o agronegócio se intensifica a desigualdade social, em geral, e, em particular, a desigualdade de gênero no mundo do trabalho.” E este cenário se torna mais preocupante quando se considera que, em um número crescente de famílias, o trabalho feminino é a principal ou até a única fonte de rendimento. Em Cruz Alta, a mulher é a principal responsável pela renda em 40% dos domicílios.
Rosa Maria Vieira Medeiros, do Núcleo de Estudos Agrários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lembra que o agronegócio, por ser altamente mecanizado, não faz uso de tanta mão de obra e, conforme a região em que ele se instala, há problemas de elevação do desemprego. “No Rio Grande do Sul, tanto a soja como o arroz, ao terem sua produção mecanizada, liberaram um enorme contingente de mão de obra, que foi engrossar a população de outros locais, como a região calçadista do Estado. Nos anos 1980, havia linhas diretas de ônibus que saíam do Norte do Rio Grande do Sul”, relembra a professora.
Agronegócio x agricultura familiar
Além de alterar as relações sociais, o agronegócio interfere espacialmente nos locais onde se insere. “Se você olhar o mapa do Brasil, vai visualizar um processo que não está baseado na diversidade de produção ou na preocupação de se ter uma estrutura descentralizada, com aproximação dos centros de produção e de consumo. Não tem o menor sentido, por exemplo, que o arroz, sendo consumido no Brasil todo, tenha sua produção tão concentrada no Sul”, observa Renato Maluf. Efeito óbvio deste modelo é a concentração de terras. “O último censo agropecuário, realizado em 2006, cujos resultados foram publicados em 2009, mostra que houve um aumento do índice de Gini quando comparado com a década de 1980. Em 1985, o índice de Gini da área total dos estabelecimentos agropecuários do Brasil era de 0,857 e, em 2006, passou para 0,872 (quanto mais próximo de um fica o índice, maior a concentração)”, explica Christiane Campos. “Isto significa que nossa estrutura fundiária, que já era extremamente concentrada, ficou ainda pior com a expansão do agronegócio.”
A professora Rosa Medeiros remete novamente ao exemplo do Rio Grande do Sul para mostrar os efeitos da expansão da monocultura de soja. “O início da cultura de soja no Estado data dos anos 1960 e se fortalece nos anos 1970, e essas áreas já foram redesenhadas. Antes, elas tinham policultura, criação de aves, porcos, e o processo de modernização da agricultura, que fez parte de um grande projeto que trouxe uma quantidade enorme de subsídios, com créditos a juros baixíssimos, modificou esse cenário”, analisa. “Os muito pequenos acabaram absorvidos pelos grandes.”
Outra consequência do domínio do agronegócio é que a agricultura familiar passa a tentar se integrar na cadeia produtiva de acordo com os interesses dos grandes. “Em Cruz Alta, por exemplo, não se percebe mudança na paisagem rural quando se está numa área da agricultura familiar e em uma lavoura de um grupo do agronegócio, porque em ambas predomina a soja, e nas lavouras se usa sementes transgênicas e o plantio direto”, destaca Christiane. “Até porque os grupos do agronegócio controlam as estruturas de armazenagem e de insumos, encarecendo o custo de produção de produtos diferentes daqueles que consideram prioritários.”
Rosa Medeiros realizou uma pesquisa no Município de Tupanciretã, interior gaúcho, e constatou que muitos assentamentos no local já produzem soja transgênica, o que vai contra os princípios da sustentabilidade e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que tem forte presença na região. Segundo ela, há três hipóteses possíveis para que assentados repitam tais práticas: a boa qualidade da terra, que atrai os interesses do capital para o cultivo da soja; a disponibilidade de linhas de crédito incentivando a produção do grão; e a necessidade de menos mão de obra com a utilização de agrotóxicos e máquinas. “Muitos estão inseridos nessa lógica, eles se organizam em cooperativas e associações e entram no sistema de competição para aluguel de máquinas. Não existe uma prática ecológica.”
No entanto, alguns assentados estão optando por uma prática sustentável: a produção do arroz ecológico, que dispensa a utilização de agrotóxicos ou adubos químicos. “É muito difícil para quem planta. O arroz ecológico requer um outro tipo de envolvimento, todo um desejo e uma filosofia de vida. Se essas pessoas pensarem só no rendimento, na primeira quebra de safra acabam largando”, pondera. Mesmo assim, a cada ano mais agricultores assentados estão optando por produzir esse tipo de arroz, que, segundo dados do MST, envolve aproximadamente 400 famílias no Estado e deve produzir 344 mil sacas na safra 2010/2011, ante 170 mil da safra 2009/2010.
Nesse contexto, a contraposição entre a agricultura familiar e o agronegócio, no que diz respeito à soberania alimentar, invoca o debate sobre o papel exercido pelo poder público. A primeira, como já dito anteriormente, é fundamental para a alimentação da população, mas o peso econômico do agronegócio é significativo. Desde a década de 1990, a participação das commodities na pauta de exportações brasileira ficava em torno dos 40%, mas, entre 2007 e 2010, ela passou para 51%. E é bom lembrar que o fenômeno não se deve exclusivamente à valorização das commodities.
“Trata-se de uma questão de políticas públicas, temos dois Ministérios, um da Agricultura e outro do Desenvolvimento Agrário. A ideia é a coexistência do agronegócio e do desenvolvimento da agricultura familiar, mas a menina dos olhos é o agronegócio, porque representa muito na balança comercial do país”, acredita Rosa Medeiros. “A dinâmica do agronegócio é muito poderosa e conta com o beneplácito da história brasileira, na qual uma das características mais marcantes em todos os regimes que tivemos é essa presença importante e poderosa da grande produção e da estrutura agrária concentrada, e que são uma reprodução da raiz da nossa desigualdade social”, avalia Renato Maluf, que reconhece o importante papel do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), mas alerta sobre a necessidade de aprimorar o sistema de financiamento. “O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é inovador e percorre o mundo, mas tem que ganhar mais amplitude do que tem hoje, é preciso decisão política e um tempo para que essa produção seja organizada.”
E a proteção contra os movimentos especulativos também já pauta as ações governamentais. A secretária de Segurança Alimentar, Maya Takagi, conta que já há uma discussão sobre a elaboração de um sistema de monitoramento dos preços, tanto dos insumos quanto dos preços dos produtores e os que chegam aos consumidores. “Ainda em fase inicial, a ideia é juntar os diversos índices de preço que existem e elaborar um sistema para acompanhar as oscilações e comparar com anos anteriores. Assim, é possível planejar várias formas de intervenção, verificando onde a elevação se concentra, no atacado ou no varejo, ou se é no nível dos insumos, por exemplo”, explica Maya. “Um segundo ponto é fortalecer a armazenagem, já que, com ela, é possível atuar para enfrentar uma eventual elevação de preços.”
Maluf atenta para a necessidade de um diálogo global e ressalta que é preciso agir no cerne do problema: a especulação. “A rodada de Doha caiu, e hoje a regulação financeira é fundamental, mas nem todos querem implementá-la. O Brasil tem regulação, mas os Estados Unidos, o principal mercado do mundo, resistem a ela, e o que acontece ali em Chicago repercute no mundo todo”, aponta. “Mas a regulação da especulação financeira depende de um acordo entre as nações e, sobretudo, dos principais países.” Não será fácil.
* Publicado originalmente pela Revista Fórum, edição 99, de junho de 2011.