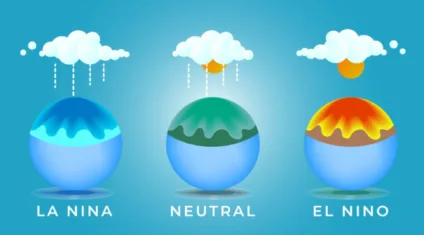Os movimentos em curso questionam a raiz da ideia de vanguarda, de que é necessária uma organização de especialistas em pensar, planificar e dirigir o movimento.

As potentes mobilizações que atravessam o mundo estão transbordando tanto em democracias como em ditaduras, regimes nascidos de eleições e de golpes de Estado, governos do primeiro e do terceiro mundo. Mas não só isso. Estravazam os muros de contenção dos partidos social-democratas e de esquerda, em suas mais diversas variantes. Estravazam também os saberes acumulados pelas práticas emancipatórias em mais de um século, pelo menos desde a Comuna de Paris.
Naturalmente, isto produz desconcerto e desconfiança entre as velhas guardas revolucionárias, que reclamam organização mais sólida, um programa com objetivos alcançáveis e caminhos para consegui-los. Em suma, uma estratégia e uma tática que pavimentem a unidade de movimentos que estariam condenados ao fracasso se persistirem em sua dispersão e improvisação atuais. O dizem frequentemente pessoas que participam nos movimentos e que se felicitam por sua existência, mas que não aceitam que possam marchar por si mesmos sem mediar intervenções que estabeleçam certa orientação e direção.
Os movimentos em curso questionam a raiz da ideia de vanguarda, de que é necessária uma organização de especialistas em pensar, planificar e dirigir o movimento. Esta ideia nasceu, como nos ensina Georges Haupt, em A Comuna Como Símbolo e Exemplo (Século 21, 1986), com o fracasso da Comuna. A leitura que fez uma parte substancial do campo revolucionário foi que a experiência parisiense fracassou pela inexistência de uma direção: foi a falta de centralização e de autoridade o que custou a vida à Comuna de Paris, disse Engels a Bakunin. O que naquele momento era acertado.
Haupt sustenta que do fracasso da Comuna surgem novos temas no movimento socialista: o partido e a tomada do poder estatal. A social-democracia alemã, o principal partido operário da época, abre passagem à ideia de que a Comuna de 1871 era um modelo a rechaçar, como escreveu Bebel poucos anos depois. A onda seguinte de revoluções operárias, que teve seu ponto alto na revolução russa de 1917, esteve marcada a fogo por uma teoria da revolução que havia feito da organização hierárquica e de especialistas seu eixo e centro.
No último meio século aconteceram duas novas ondas dos de baixo: as revoluções de 1968 e as atuais, que provavelmente tiveram seu ponto de arranque nos movimentos latino-americanos contra o neoliberalismo na década de 1990. Neste meio século sucederam, inseridos em ambas ondas, alguns fatos que modificam na raiz aqueles princípios anteriores: o fracasso do socialismo soviético, a descolonização do terceiro mundo e, sobretudo, as revoltas das mulheres, dos jovens e dos operários. Esses três processos são tão recentes que muitas vezes não reparamos na profundidade das transformações que encarnam.
As mulheres fizeram entrar em crise o patriarcado, o que não quer dizer que ele tenha desaparecido, mas criou fissuras em um dos núcleos da dominação. Os jovens têm estravasado contra a cultura autoritária. Os operários e as operárias desarticularam o fordismo. É evidente que os três movimentos pertencem a um mesmo processo que podemos resumir em crise de autoridade: do macho, do hierárquico e do capataz. Em seu lugar se instalou uma grande desordem que força os dominadores a encontrar novas formas para disciplinar os de baixo, para impor uma ordem cada vez mais efêmera e menos legítima, já que frequentemente é simples violência: machista, estatal, desde cima.
Em paralelo, os de baixo têm se apropriado de saberes que antes lhes eram negados, desde o domínio da escritura até as modernas tecnologias da comunicação. O mais importante, entretanto, é o que aprenderam dos fatos ligados: como atua a dominação e como fazer para desarticulá-la ou, pelo menos, neutralizá-la. Um século atrás, eram uma exígua minoria os operários que dominavam tais artes. As rebeliões, como a que comandou a Comuna, eram fruto de brechas que outros abriam nos muros da dominação. Agora, os de baixo aprenderam a abrir as rachaduras por si mesmos, sem depender da sacrossanta “conjuntura revolucionária”, cujo conhecimento era obra de especialistas que dominavam certos saberes abstratos.
Em algumas regiões do mundo pobre se produziu a recuperação de saberes ancestrais dos de baixo, que haviam sido soterrados pelo progresso e a modernidade. Neste processo, os povos indígenas tiveram um papel decisivo, ao dar nova vida a um conjunto de saberes vinculados à curandice, à aprendizagem, à relação com o entorno e também à defesa das comunidades, ou seja, à guerra. Aí estão os zapatistas, mas também as comunidades de Bagua, na selva peruana, e um sem fim de experiências que mostram que aqueles saberes são válidos para estas resistências.
Este conjunto de aprendizagens e novas capacidades adquiridas na resistência tornou imprestável e pouco operativa a existência de vanguardas, esses grupos que têm vocação de mandar porque creem saber o que é melhor para os outros. Agora, povos inteiros sabem como conduzir a si mesmos, com base no mandar obedecendo, mas também inspirados por outros princípios que pudemos escutar e praticar nesses anos: “caminhar no passo do mais lento”, “juntos, nós sabemos tudo” e “perguntando caminhamos”.
Isto não quer dizer que já não seja necessário organizar-nos em coletivos militantes. Sem este tipo de organizações e grupos, integrados por ativistas ou como queira chamar-se às pessoas que dedicam as melhores energias a mudar o mundo, essa transformação não chegaria jamais, porque nunca cai do céu, nem é presente de caudilhos e estadistas esclarecidos. As revoluções que estamos vivendo são fruto dessas múltiplas energias. As detonamos entre muitos e muitas. Mas, uma vez postas em marcha, a pretensão de dirigi-las puramente pelo mando normalmente produz resultados opostos aos pretendidos.
Tradução: Aline Scarso.
* Publicado originalmente no site Brasil de Fato.