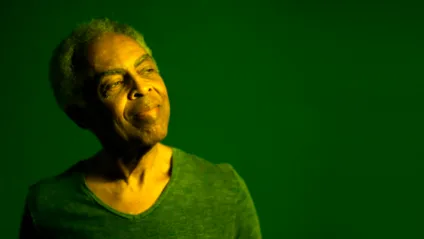Não faz nem uma semana, São Paulo foi palco de um debate acirrado sobre o trabalho de voluntários que, durante a noite, distribuem sopas aos moradores de rua na maior cidade do país. A Prefeitura ensaiou censurar o trabalho, movimentos sociais reagiram e o prefeito Gilberto Kassab, ciente da má repercussão do caso, proibiu a proibição. No calor da discussão, muitos leitores esclarecidos e bem agasalhados aproveitaram o momento para colocar para fora uma bronca ancestral. Muitos se queixavam da presença dos mendigos que, como pestes transmissoras de doenças, se espalhavam pelo caminho de casa.
“Em vez de dar o peixe é preciso ensinar a pescar”, discursaram os defensores do bom senso – que não por acaso têm o monopólio das varas, das redes, das iscas e dos barcos a motor. Um deles foi além: escreveu aos leitores deste site que a proibição da distribuição dos alimentos seria saudável para a economia paulistana. E explicou: com a ajuda dos voluntários, os legumes desapareciam das prateleiras, o que elevava os preços, gerava a inflação e prejudicava o bolso de quem trabalhava e tinha condições de comprá-los.
Sem querer, o sujeito dava um retrato bem acabado do espírito utilitarista moderno, do qual os asseclas veem signos sem significantes (ou hieróglifos de uma linguagem estranha) toda vez que se deparam com expressões como “solidariedade” e “gratuidade”.
Parece ironia, mas a mesma cidade, que ontem se negava a dar um prato de sopa aos seus moradores de rua, assistiria, pela tevê, a história de Rejaniel de Jesus Silva Santos e Sandra Regina Domingues, habitantes de um viaduto do Tatuapé que encontraram uma bolsa com R$ 20 mil e decidiram chamar a polícia. (O leitor preocupado com a inflação poderia se exasperar sabendo que os legumes seguirão em falta nas prateleiras, agora com um agravante: as notas de dinheiro seriam novamente injetadas na economia, cutucando com vara curta o fantasma da inflação.)
Se tem uma história que os leitores adoram, e os jornais não perdem a chance de destacar, é sobre pessoas pobres que, diante da chance de enriquecer, devolvem o dinheiro que não lhes pertencia. Fica a impressão de que as coisas ainda têm jeito – e de alguma forma deve ter. É como um respiro no noticiário mundo-cão.
A história do casal de catadores de São Paulo parecia inspirada em Onde os Fracos Não Têm Vez, o filme dos irmãos Coen baseado no livro de Cormac McCarthy em que o personagem de Josh Brolin encontra uma mala de dinheiro e passa o resto da vida penando por conta da própria sorte. (Já que o dinheiro pertencia a um grupo criminoso pouco disposto a fazer caridade.) Pelo menos no filme, vencedor do Oscar de 2008, o destino girou a roda da fortuna em direção contrária, e o apego à própria sorte provocaria estragos imateriais: o personagem ganha o dinheiro mas perde a paz, passa a ser perseguido e coloca em perigo a segurança da própria família. No caso de Rejaniel, havia principalmente duas preocupações admitidas nas inúmeras entrevistas dadas ao longo do dia: o medo de criar problemas com a polícia (que poderia desconfiar se o visse com tanto dinheiro) e a vontade de despertar o orgulho dos pais.
De toda forma, o limiar entre a oportunidade escancarada e uma possível consequência desastrosa da sorte parecia tênue. Basta lembrar a ameaça sobre os dois candidatos a heróis das ruas feita pelos criminosos que haviam assaltado um restaurante em São Paulo e esconderam a mala possivelmente para despistar a polícia. (Impossível não imaginá-los com a cara do Javier Bardem.)
De toda forma, o desprendimento dos dois moradores de rua provoca um nó na cabeça de quem, na semana passada, já se preocupava com o preço dos legumes ao consumidor final. É como rasgar nota de cem: não adianta buscar sentido na atitude. Mesmo assim, dá para ao menos imaginar que os moradores de rua já passaram por situações-limite tais de desapego que R$ 20 mil a mais, ou a menos, já não faz diferença. É como se houvesse uma ética própria das ruas, que oprime mas também abriga um despreendimento libertário impossível de ser encontrado em instituições como família, escola, trabalho e até albergues (todos com lógicas próprias, valores, regras e horários de funcionamento). Entender essa lógica com o olhar de quem não foi ao limite do desprendimento é exercício inútil.
Em 2005, quando torcedores provocaram atos de vandalismo depois da conquista da Libertadores pelo São Paulo, vi uma banca de revistas ser destruída em segundos na base dos pontapés. A banca ganhou o formato de um número “8”, e logo foi invadida. Era parte da destruição. De onde eu estava, via as pessoas entrando na banca, parte delas com camisas oficiais de seu time, e levando o que cabia nas mãos: revistas, jornais, maços de cigarros, brindes. No mesmo instante, um catador de material reciclável, que passava pelo mesmo local sempre naquele horário, atravessou a bagunça com um olhar de estranhamento. Não só não aproveitou a chance de engordar o bolso surrado como balançou a cabeça em reprimenda aos espertalhões – que levavam num braço o que ele levaria uma noite para recolher em forma de latinhas de cerveja ou refrigerantes.
Num mundo tão competitivo e de oportunidades tão escassas, a rejeição da própria sorte parece algo difícil de se entender. “Mas a vida real não é entendível”, escreveu certa vez Guimarães Rosa. A história do casal que recusou a própria sorte mostra que, nas ruas (ou no sertão, ou no deserto dos irmãos Coen), a sobrevivência não é medida pelas portas de oportunidades.
* Publicado originalmente no site Carta Capital.