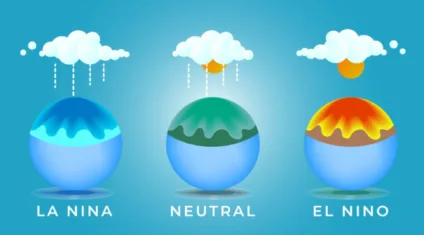Há 40 anos, nasceu a primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Brasil. Em 1971, um grupo de médicos do Hospital Sírio-Libanês, muitos cirurgiões gerais, sentiu a necessidade de organizar uma UTI para cuidar de pacientes graves. Não havia, então, médicos com formação em terapia intensiva no país. Conhecia-se pouco das respostas do organismo às doenças graves, os equipamentos substitutos das funções de órgãos eram limitados e os medicamentos e recursos de monitoramento de sinais vitais, escassos. A mortalidade de pacientes internados era muito alta, criando o conceito de que ir a uma UTI era quase uma sentença de morte.
 Com o passar do tempo, e de uma forma rápida, a situação foi melhorando. Hoje, os equipamentos para o suporte avançado de vida, ou seja, máquinas que substituem temporariamente a função de órgãos vitais, ventiladores mecânicos e aparelhos de diálise, entre outros, permitem manter os pacientes vivos até a recuperação da condição clínica que os levou à unidade.
Com o passar do tempo, e de uma forma rápida, a situação foi melhorando. Hoje, os equipamentos para o suporte avançado de vida, ou seja, máquinas que substituem temporariamente a função de órgãos vitais, ventiladores mecânicos e aparelhos de diálise, entre outros, permitem manter os pacientes vivos até a recuperação da condição clínica que os levou à unidade.
Conversamos com o doutor Guilherme Schettino, médico intensivista e coordenador da UTI do Hospital Sírio-Libanês sobre essa evolução.
CartaCapital: Ainda há o mito de que internação em UTI equivale a morte certa?
Guilherme Schettino: Não, as coisas mudaram muito. Avanços médicos e tecnológicos transformaram drasticamente essa imagem. A taxa de sobrevida em nossa UTI, em 2010, foi de 92%. Dos 2.134 que passaram pela UTI, 1.963 receberam alta para continuar o tratamento.
CC: O que fez a grande diferença, comparando com 1971?
GS: Vários fatores ajudaram. Um fator decisivo para a diminuição da mortalidade foi o avanço do conhecimento dos mecanismos básicos das doenças graves. Entender como os diversos órgãos e sistemas respondem a uma agressão, seja ela cirurgia de grande porte, trauma ou infecção, foi essencial para o desenvolvimento de novos medicamentos e estratégias de tratamento. Isso permitiu a muitos médicos se dedicar à terapia intensiva. Temos até subespecialidades no cuidado dos pacientes graves, como o neurointensivismo ou cardiointensivismo. Especialização para o cuidado de pacientes críticos é exigida também de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos e psicólogos nessas unidades. A UTI é talvez o local onde o trabalho multiprofissional é mais decisivo.
CC: A tecnologia acompanhou esses avanços médicos?
GS: Avançou muito, mas vale salientar que não há tecnologia que substitua a atuação de um bom time. Tecnologias para monitorar os sinais vitais e avaliar em tempo real o funcionamento dos órgãos, assim como os métodos para diagnóstico, sejam eles laboratoriais, sejam eles de imagem, evoluíram de maneira surpreendente. Hoje, pequenos cateteres permitem, por exemplo, acompanhar em tempo real a pressão, a temperatura e a quantidade de oxigênio dentro do cérebro de pacientes que sofreram um trauma de crânio, permitindo ao médico atuar precocemente quando um desses parâmetros estiver fora da faixa segura. Novos antimicrobianos e, principalmente, estratégias de diagnóstico e tratamento precoces foram decisivos para a sobrevida.
CC: Como se compara, hoje, a terapia intensiva brasileira com a do resto do mundo?
GS: Nossa terapia intensiva não deve nada ao resto do mundo. A UTI do Hospital Sírio-Libanês tem uma parceria forte com o Instituto de Ensino e Pesquisa para o desenvolvimento de pesquisas básicas e clínicas na área de medicina intensiva, contribuindo para a geração de conhecimento nessa área. A análise dos dados dos últimos 1,2 mil pacientes consecutivos que passaram pela UTI do hospital atestou que a qualidade de nossos cuidados equipara-se às melhores UTIs norte-americanas e da Europa Ocidental. Esta baixa taxa de mortalidade mostra que somos prudentes nos critérios de internação na UTI, isto é, estamos internando pacientes com perspectiva de cura, e não pacientes terminais, o que é boa prática para o uso racional dos recursos.
* Publicado originalmente no site da revista Carta Capital.