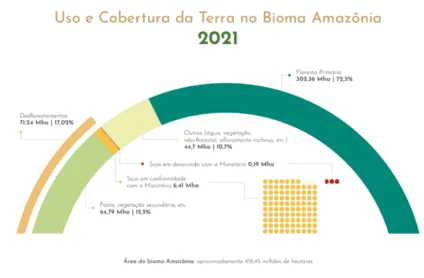Se a hidrelétrica de Belo Monte, a maior obra de infraestrutura em andamento no Brasil, é inviável, como apregoam os seus críticos, por que o governo a aprovou, por que há empresas privadas interessadas nela e tantos técnicos – e mesmo cientistas – se manifestam em defesa do projeto?
 A resposta a essa pergunta fundamental serve de prova dos nove da operação. Muitos reagem com aprovação imediata à iniciativa. Afinal, ela não passou pelo teste dos engenheiros e matemáticos? Logo, tem consistência.
A resposta a essa pergunta fundamental serve de prova dos nove da operação. Muitos reagem com aprovação imediata à iniciativa. Afinal, ela não passou pelo teste dos engenheiros e matemáticos? Logo, tem consistência.
Tudo que é sólido, porém, se dissolve no ar, advertiu o filósofo da crítica radical (aquela que pega os fatos por sua raiz). Belo Monte pode se enquadrar nesse truísmo. Mas, para que a sua equação funcione, é preciso que a incógnita permaneça irrevelada até o fim, fim esse que corresponde ao fato consumado, ao leite derramado, à morte de Inês no poema formador da língua, agora em processo de deformação.
Esta incógnita é o governo. Belo Monte devia fazer parte de uma nova família, criada pela política de privatização do Estado dos social-democratas tucanos e mantida, com atualizações e adequações, pelos antigos jovens turcos petistas (hoje mais para nouveaux riches, quando não arrivistas). O Estado recuaria para a função reguladora e as empresas particulares assumiriam a vanguarda do processo econômico. Colocariam no jogo o que é sua razão de ser (e, por suposto, sua supremacia): o capital de risco.
Mas metade das ações da Norte Engenharia, que já começou a construir a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, é da Chesf, a empresa federal de energia do Nordeste. Estatais e fundos de previdência são também os maiores acionistas das empresas que constroem as hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, no Rio Madeira, em Rondônia.
Ao invés de assumirem o comando das obras, as empresas privadas retroagiram à sua função original, de empreiteiras, conforme o velho modelo capitalista, refinado durante o regime militar (1964-1985). Algumas delas (nem sempre as principais) mantiveram participação no capital das concessionárias de energia para atuar com mais desenvoltura no futuro, quando o investimento estiver amortizado e for o momento de faturar tarifas das mais caras do planeta.
Não podia ser de outra forma? Na ótica delas, não. Em dez anos, o orçamento de Belo Monte saltou de R$ 10,4 bilhões para R$ 31,2 bilhões. Quanto será o valor de chegada? No caso da hidrelétrica de Tucuruí, que deu a partida com US$ 2,1 bilhões, o custo final ultrapassou US$ 10 bilhões. No orçamento de Belo Monte não está incluída a linha de transmissão (que, na melhor das hipóteses, sairá por mais de dois terços da obra de geração) e alguns outros itens milionários.
Uma das causas dessa triplicação entre 2001 e 2011 é a complexidade do projeto de engenharia. Originalmente, o projeto seguiria o esquema convencional. Como alagaria área enorme e precisaria de mais de um barramento rio acima, provocou grande reação na opinião pública. Para não criar grandes reservatórios, o desenho foi modificado.
O tamanho da área de inundação diminuiu significativamente, mas teve efeitos adversos. Sem retenção de água, a usina passará a funcionar com água corrente. Como no verão a vazão do rio é mínima, a hidrelétrica ficará paralisada durante três ou quatro meses. Com isso, a média de energia que poderá gerar estará abaixo de 40% da sua capacidade nominal. Isto significa quilowatt mais caro. Muito mais.
Além disso, um complicado sistema de diques terá que ser construído para manter a vazão lateral do rio até a casa de força, onde estarão as 20 enormes turbinas. Diante da complexidade do desafio, ninguém poderá garantir que não haverá vazamento. Será mais um fator de perda de energia a complicar a viabilização do negócio.
Para que o projeto não fosse à ruína, além de assumir o controle acionário da empresa responsável pela obra, o governo garantirá o financiamento. O BNDES se comprometeu a entrar com 80% do custo de Belo Monte. Como é uma despesa gigantesca, o dinheiro sairá do caixa do tesouro nacional, fonte de R$ 200 bilhões incorporados ao banco nos últimos dois anos (recorde em todos os tempos). Se o equilíbrio financeiro ficar ameaçado ou for comprometido, sabe-se de onde virá a salvação.
Trata-se mesmo de uma tarefa salvífica, missionária. É o que explica o desdém de todos os participantes do projeto pelas exigências prévias para o licenciamento ambiental. A licença foi dada mesmo com o óbvio descumprimento das cláusulas acertadas com o Ministério Público Federal. A presunção é de que o governo, grande ausente na área, agitada pela iminência da grande obra, surgirá de súbito para fazer o que não foi feito. A fundo perdido.
Sua atitude não será a socialização dos prejuízos e privatização dos lucros, tão reprovável quanto contumaz? Talvez seja, mas para o governo o que importa é a meta traçada no novo Plano Decenal, apresentado no final do mês passado: extrair da Amazônia, em 2020, 23% das necessidades brasileiras de energia. A participação atual da região é de 10%.
Se acontecer esse incremento, de 265%, com a oferta de mais 28 mil megawatts extraídos dos rios amazônicos, as participações das demais regiões cairão: do Sudeste/Centro-Oeste, de 60% para 46,6%; e do Sul, de 16% para 14% (apenas o Nordeste terá um ligeiro aumento, de 14% para 17%).
A Amazônia se tornará, de vez, na grande província energética brasileira. Cederá a força motriz da sua bacia hidrográfica, a maior do mundo, para ser transformada em produtos acabados a milhares de quilômetros de distância. Não era exatamente esse o paraíso vislumbrado por Euclides da Cunha um século atrás. Mas seu vaticínio se realizará: será um paraíso perdido. Pobre Amazônia rica.
* Lúcio Flávio Pinto é jornalista paraense e publica o Jornal Pessoal.
** Publicado originalmente no site Adital.