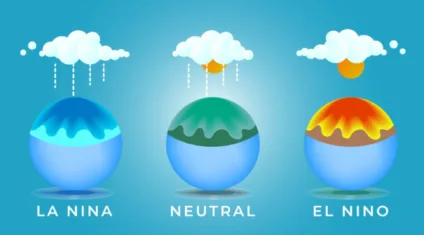O que você faria se o gerente de seu banco recomendasse comprar ações de uma companhia que, no dia seguinte, quebraria?
 Pediria a demissão do gerente, pelo menos, mesmo assim se não tivesse instinto assassino. Bom, foi mais ou menos isso o que aconteceu com as agências de avaliação de risco: mantiveram a mais alta nota para o banco Lehman Brothers, até ele quebrar e potencializar a maior crise econômico-financeira dos últimos 60 anos.
Pediria a demissão do gerente, pelo menos, mesmo assim se não tivesse instinto assassino. Bom, foi mais ou menos isso o que aconteceu com as agências de avaliação de risco: mantiveram a mais alta nota para o banco Lehman Brothers, até ele quebrar e potencializar a maior crise econômico-financeira dos últimos 60 anos.
Mas, ao contrário do que aconteceria ao hipotético gerente de seu banco, nada, rigorosamente nada, ocorreu com as agências de “rating”, mesmo tendo sido posteriormente definidas pelo Congresso norte-americano como peças essenciais no “mecanismo de destruição financeira”.
Ao contrário: o Banco Central Europeu, entre outros, manteve em seus estatutos a obrigatoriedade de só comprar papeis classificados como de máxima solvência pelas agências, além de tudo um oligopólio (três delas controlam 90% do mercado).
Por isso, é relevante a decisão do BCE de continuar comprando títulos portugueses, a despeito de sua qualificação ter sido rebaixada a quase lixo.
Igualmente relevante, embora tardio, demasiado tardio, é o anúncio de José Manuel Durão Barroso, o presidente da Comissão Europeia, de que pretende regular a atuação das agências. Essa regulação, bem como a de todo o sistema financeiro, foi prometida pelo G20 na imediata esteira da crise de 2007/08, mas não saiu do papel. Propostas há, mas falta a implementação.
Esses movimentos indicam uma tênue reação dos governos europeus à situação assim descrita na segunda-feira, em artigo para o “Financial Times” escrito pelos ex-primeiros-ministros Giuliano Amato, da Itália, e Guy Verhofstadt, da Bélgica: “Os governos estão tentando governar, mas as agências de risco ainda mandam”.
Se os governos não restabelecerem a capacidade de governar de fato, o que exige enquadrar devidamente os mercados, a Europa não sairá de sua crise. E o resto do mundo recebe estilhaços: o governo dos Estados Unidos apontou a turbulência na Grécia como um dos fatores para o decepcionante número de empregos criados em junho.
É nesse contexto de conflito mercados/governos que o ministro holandês de Finanças, Jan Kees de Jager, resolveu dizer as coisas como as coisas são: é irrealista esperar a tal contribuição voluntária da banca ao segundo pacote de socorro à Grécia. Deveria ser considerada uma participação obrigatória, mesmo que as agências de avaliação de risco a enquadrassem como calote e, por extensão, degradassem ainda mais o “rating” da Grécia.
Afinal de contas, diz De Jager, “a Grécia não poderá financiar-se mesmo nos mercados agora ou no futuro próximo”.
O que o ministro está dizendo, quase diretamente, que é melhor aplicar de uma vez um “hair cut”, a nova terminologia para calote parcial, em vez de prolongar a agonia não apenas dos gregos como dos demais países ditos periféricos. Não custa lembrar que ontem a Itália, que nem periférica é, entrou na mira dos mercados.
A guerra, portanto, está apenas começando.
* Clóvis Rossi é jornalista,
** Pulicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo e retirado do site IHU On-Line.