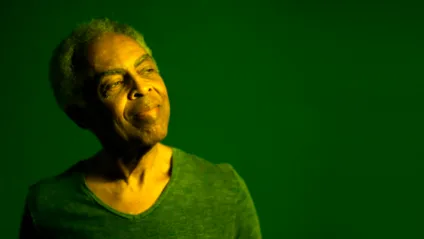O Serviço Nacional de Estatísticas do Trabalho informou essa semana que não se criou sequer um emprego nos Estados Unidos, em agosto. Zero. Nada.
Não é bem assim. A greve na Verizon reduziu a força de trabalho (-45 mil trabalhadores trabalharam). O fim da greve dos funcionários públicos em Minnesota devolveu ao trabalho 22 mil empregados (+22 mil). Na verdade, os Estados Unidos têm hoje mais 23 mil empregos ocupados. Quase zero.
Também não é bem assim. De fato, é pior que zero. Os Estados Unidos precisam criar 125 mil empregos por mês, apenas para dar conta do crescimento populacional. Os novos números significam, isso sim, que o buraco só faz aumentar.
Desde o início da atual depressão, no final de 2007, a força de trabalho potencial nos Estados Unidos – pessoas em idade laboral que querem trabalhar – cresceu para mais de sete milhões. Mas, desde então, caiu, em mais de 300 mil, o número de norte-americanos empregados.
Se isso não levar o presidente Obama a apresentar um plano consistente de emprego no dia 8, não sei o que o convencerá.
O problema está do lado da demanda. Consumidores (cujos gastos respondem por 70% da economia) não podem, sozinhos, reativar a economia. Ainda estão supercarregados de dívidas, sobretudo para manter casas que, hoje, valem menos que as hipotecas que têm de ser pagas. Veem os empregos sumir, os salários encolher, a conta com médicos e remédios subir.
E nenhuma empresa contratará, sem vendas.
O que quer dizer que entramos num círculo vicioso.
Os Republicanos repetem que as empresas não contratam porque estão inseguras sobre os custos regulatórios. Ou porque não encontram os empregados qualificados de que precisam.
Bobagem. Se essas fossem as razões pelas quais as empresas não contratam – e a demanda estivesse crescendo –, seria de se esperar que as empresas usassem por mais tempo os atuais empregados. O tempo médio semanal de trabalho estaria aumentando.
Mas o tempo médio semanal de trabalho só diminui. Em agosto, diminuiu pelo terceiro mês consecutivo: chegou agora a 34,2 horas. Voltou ao ponto onde esteve no início do ano – maior, só, do que o ponto mais baixo ao qual caiu, há dois anos (33,7 horas, em junho de 2009).
É a demanda, estúpido!
Assim sendo, o que faz nação sã, quando consumidores e empresários, sozinhos, não conseguem reativar a economia?
O governo vira comprador de última instância. Contrata diretamente [um novo Work Progress Administration (1) e novo Civilian Conservation Corps (2), por exemplo]. Ajuda Estados e regiões, de modo que não tenham de continuar a cortar salários e serviços públicos. (A ajuda pode ser estruturada como empréstimo, a ser pago depois de o desemprego cair, digamos, para 6%.)
E o Estado contrata indiretamente – contrata empresas para reconstruir a infraestrutura dos Estados Unidos, que está em ruínas, inclusive prédios escolares, só para dar outro exemplo.
Por essa via, o Estado não se limita a apenas criar empregos, mas também põe dinheiro na mão das pessoas que voltam a trabalhar, de modo que possam voltar a comprar os bens e serviços de que precisam – o que gera mais empregos.
Entenderam? Não é, de fato, altíssima e complexíssima ciência.
Assim sendo, por que os Republicanos não entendem? Ou são desonestos – querem que a economia continue de mal a pior até as próximas eleições, para que os eleitores despachem Obama. Ou são idiotas – compraram a lorota segundo a qual, reduzindo-se o déficit, criam-se empregos.
Cada vez que você ouvir dizer que estamos “quebrados” ou que “não suportamos gastar mais”, responda que, se não gastarmos mais, ficaremos em pior situação do que estamos. Se a economia continua como tijolo na água, a proporção entre dívida pública e PIB sobe feito balão.
E diga também que o governo federal pode agora tomar empréstimos a juros de resto de incêndio. Os bônus de dez anos do Tesouro pagam juros de 2%.
Ouviu bem, presidente Obama? Por favor, seja firme na semana que vem. E se, como se espera, os Republicanos não aceitarem, convoque o povo. Mobilize a opinião pública. Use o bully pulpit (3). Ser presidente dos Estados Unidos serve para isso.
Só mais uma coisa, presidente Obama. O senhor tem, também, de enfrentar a desigualdade. Enquanto renda e riqueza continuam a fluir só para o topo da pirâmide dos mais ricos, a vasta maioria dos norte-americanos continua a não ter o suficiente para comprar e reaquecer a economia. Acionar a bomba é necessário, mas de nada adiantará, se não houver água no poço.
Notas dos tradutores
(1) Work Progress Administration é o programa instituído, em abril de 1935, como parte do New Deal, para gerar empregos públicos e reduzir o número de desempregados. (Mais sobre isso em http://www.u-s-history.com/pages/h1599.html).
(2) Civilian Conservation Corps é o programa que existiu de 1933 a 1942, também como parte do New Deal. (Mais sobre isso em http://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_Conservation_Corps).
(3) Bully pulpit é expressão difícil de traduzir, porque tem dois significados diametralmente opostos. Hoje, o significado do verbo bully é “incomodar, perturbar, com intenção de humilhar e ofender”. Nesse sentido, o verbo bully é usado hoje na expressão globalizada bullying. Mas é expressão histórica, no inglês dos Estados Unidos, com sentido bem diferente. A expressão foi usada pela primeira vez pelo presidente Theodore Roosevelt, que se referia à Casa Branca como um bully pulpit que, naquele contexto, significou plataforma de excepcional alcance e poder, da qual alguém democraticamente qualificado pode dizer o que tenha de ser dito, incorporando toda a autoridade do posto; literalmente, nesse sentido, significa “palanque do qual se pode dizer muitas verdades (e presumivelmente incomodar muita gente), sem que nada nos atinja”. Foi expressão muito usada durante muito tempo, antes de o verbo bully ser globalizado para várias línguas, quase sempre sem significado preciso conhecido dos falantes que o usem, usado para denotar o que dê na telha de cada um.
Observação dos assessores linguistas, da Vila Vudu
Esse fenômeno, de uma palavra ser usada para dois significados diametralmente opostos, em registros sociais diferentes da mesma língua, cada um deles marcado pela entonação, não é raro. Aconteceu em português, por exemplo, com o verbo “arrebentar”, hoje usado no português do Brasil, tanto para dizer que algo foi destruído, como para dizer que algo deu excepcionalmente certo, obteve grande sucesso: “Fulano arrebentou a porta” (na primeira acepção) e “Fulano arrebentou no show, ontem” (na segunda). Em termos sintáticos, a diferença só se marca pela valência do verbo: sempre transitivo direto (na primeira acepção) e sempre intransitivo (na segunda).
Tanto no caso de bullying (inglês) quanto no caso de “arrebentar” (português do Brasil), parece estar havendo um deslizamento semântico que pode estar neutralizando (naturalizando?) os traços semânticos de violência ou intenção de ofender e humilhar e, simultaneamente, “prestigiando”, para a sociedade, os mesmos traços semânticos.
Pode estar havendo aí um sinal importante do dano que a imprensa-empresa causa também no plano da língua e dos discursos, quando, à custa de só noticiar desgraças e crimes pressupostos – sempre sem qualquer atenção ao rigor factual –, a imprensa-empresa acaba por neutralizar (naturalizar?) o que, nos crimes e desgraças é crime e desgraça, ao mesmo tempo em que promove o que, nos crimes e desgraças, é só espetáculo. Assunto para discutir mais.
Tradução: Coletivo Vila Vudu.
* Robert Reich é professor emérito de Políticas Públicas na Universidade da Califórnia em Berkeley, Estados Unidos. Foi assessor de três presidentes e secretário do Trabalho do governo Clinton. É autor de vários livros, entre os quais O Trabalho das Nações (Educator, 1994), Locked in the Cabinet (Vintage, 1997), Supercapitalismo (Campus, 2008), e seu livro mais recente Aftershock (Random House, 2011).
** Publicado originalmente pelo Common Dreams.org e retirado do site Agência Carta Maior.