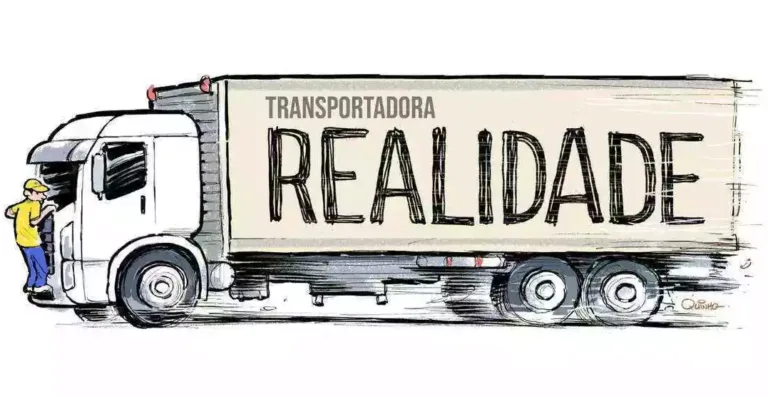Miami, Estados Unidos, setembro/2011 – Os analistas não chegam a um acordo: uns reclamam que nada é igual desde o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, e outros dizem que tudo, em essência, continua igual. Paradoxalmente, os dois lados e as duas tendências de opinião têm razão. Os Estados Unidos continuam sendo basicamente fiéis ao seu DNA originário, mas para certas ações perceptíveis em seu tecido socioeconômico mudaram sua personalidade, ou, pelo menos, sua conduta. Além disso, não está claro se as mudanças se devem aos efeitos do 11 de Setembro (11-S) ou se são resultado do impacto da crise global.
Miami, Estados Unidos, setembro/2011 – Os analistas não chegam a um acordo: uns reclamam que nada é igual desde o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, e outros dizem que tudo, em essência, continua igual. Paradoxalmente, os dois lados e as duas tendências de opinião têm razão. Os Estados Unidos continuam sendo basicamente fiéis ao seu DNA originário, mas para certas ações perceptíveis em seu tecido socioeconômico mudaram sua personalidade, ou, pelo menos, sua conduta. Além disso, não está claro se as mudanças se devem aos efeitos do 11 de Setembro (11-S) ou se são resultado do impacto da crise global.
Algumas das dimensões do credo nacional sofrem o efeito da erosão durante o meio século anterior (desde a Segunda Guerra Mundial) e, de certa maneira, as mudanças podem ser mais óbvias desde o 11-S. Durante as décadas duras da Guerra Fria, os Estados Unidos pressionaram sobre uma missão primordial: a contenção do comunismo, que havia sido detectado como o inimigo principal. A luta contra a Alemanha e o Japão foi considerada jogo de criança, resultado de certa rapidez (menos de cinco anos entre Pearl Harbor e Hiroshima, passando pela Normandia).
O difícil foi a oposição às ambições globais de Moscou e seus aliados. É quando no script norte-americano se insere uma missão que justifica todos os meios. As alianças com regimes autocratas são aceitas para salvaguardar da guerra contra a ameaça marxista. As mostras de imperialismo local na América Latina e na Ásia são parte do mesmo roteiro. Porém, o fim da União Soviética deixou os Estados Unidos sem inimigo e sua estratégia mundial sem uma justificativa clara.
Na última década do século passado, o debate surgiu nos centros de poder sobre o que fazer com a curiosa “hegemonia” (por falta de outra palavra) em um mundo que havia esgotado a história e se dispunha a abraçar todo o decálogo nacional. Os “falcões” exortavam o recém-eleito George W. Bush para aproveitar a oportunidade e ganhar por goleada. Os mais prudentes aconselhavam paciência e atenção aos temas sociais e econômicos.
Ambos tinham razão para sua estratégia. Os Estados Unidos vivam em paz em um mundo onde o preço do barril de petróleo era de US$ 28. Hoje custa US$ 115. Na época, o país apresentava superávit; hoje sofre com dívida superior a US$ 15 bilhões. O final da Guerra Fria oferecia um respiro na corrida armamentista; hoje a resposta ao 11-S tem custo de US$ 20 bilhões, o dobro do que custou o desastre no Vietnã. A poucas semanas de receber o apoio praticamente de todo o planeta, Bush dilapidou esse capital ao apostar no unilateralismo, baseado na tese de que “a missão justifica a coalizão”. A Otan foi desprezada inicialmente, só resgatada tardiamente no Afeganistão. Washington trocou alguns dos aliados tradicionais (França, Alemanha) pela “relação especial” com o Reino Unido.
Embora se considere que as medidas de segurança conseguiram o prêmio desejado (ausência de novo ataque terrorista), o certo é que a “guerra contra o terror” converteu medidas excepcionais em rotineiras. Nada parece estar fora dos limites do escrutínio governamental, uma vez que as dezenas de agências de segurança se compactaram em uma só. Significativamente, o povo norte-americano aceitou sem protestos o novo regime pelo qual, de um escritório localizado sabe-se lá onde, a compra de um sorvete se equipara a uma transferência bancária com o Irã, em nome da segurança.
O mais preocupante é que a segurança externa e parte da interna foram delegadas a umas forças armadas que, lamentavelmente, vão se isolando do restante da sociedade e do governo (as críticas de seus altos comandos são comuns). Os soldados são aplaudidos nos aeroportos e mercados, e elogiados em programas de televisão, os exércitos formados por voluntários, refletindo desproporcionalmente os estratos socioeconômicos. Contudo, passam despercebidos os cadáveres dos caídos, ao serem repatriados. Não há cerimônias solenes, apenas um punhado de familiares. Se em Nova York caíram três mil inocentes, esse número foi superado no Afeganistão. Mas isso é pagamento, como em qualquer trabalho mal remunerado. Tudo, no fundo, normal e nada mudou. Envolverde/IPS
* Joaquín Roy é catedrático Jean Monet e diretor do Centro da União Europeia da Universidade de Miami ([email protected]).