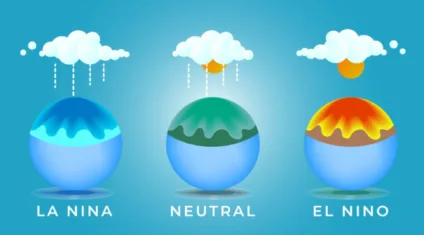E mais um encontro preparatório de 180 países para a reunião da Convenção do Clima programada para o fim do ano, na África do Sul, terminou na semana passada, em Bonn, sem nenhum avanço. Em relação à necessária redução de emissões de gases que contribuem para as mudanças climáticas, já surgem lógicas que começam a pregar que o caminho é o de leis nacionais, quando é indispensável um acordo global; lógicas financeiras, que se sobrepõem ao bom senso e à urgência na solução, pois o balanço de 2010 já mostra as emissões em 30,6 bilhões de toneladas anuais de carbono, muito perto do limite de 32 bilhões, que, ultrapassado, levaria o aumento da temperatura da Terra, nas próximas décadas, a superar o limite de 2ºC, com consequências muito mais graves do que já temos; e, um outro caminho, a esperança de que apenas tecnologias serão capazes de encontrar a solução.
 Diante dos impasses, haverá novo encontro no mês que vem na Alemanha e outro em Tóquio para discutir o que se fará para cumprir a promessa, não efetivada, dos países industrializados de contribuírem com US$ 100 bilhões anuais até 2020 para ajudar os países mais pobres a enfrentar os dramas do clima.
Diante dos impasses, haverá novo encontro no mês que vem na Alemanha e outro em Tóquio para discutir o que se fará para cumprir a promessa, não efetivada, dos países industrializados de contribuírem com US$ 100 bilhões anuais até 2020 para ajudar os países mais pobres a enfrentar os dramas do clima.
Na verdade, já se sabe que não haverá acordo global na África do Sul – tanto que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se afastou das negociações e prometeu, em sua recente visita ao Brasil, que, reeleito, se esforçará para que se alcance o acordo global sobre o clima na reunião Rio+20, programada para o ano que vem.
Em Bonn, os países mais pobres e os países-ilhas – os mais ameaçados pelos desastres climáticos – fizeram um apelo para que se consiga pelo menos prorrogar o Protocolo de Kyoto, de modo que as nações industrializadas e suas empresas possam continuar financiando projetos de redução de emissões nos demais países e descontando a diminuição em seus balanços de emissões. Mas o Japão já disse que não apoiará a prorrogação (o protocolo vence em 2012), da mesma forma que a Rússia e o Canadá – a não ser que todos os países o façam, incluindo os Estados Unidos e a China, os maiores emissores, que nem sequer homologaram o protocolo. E os Estados Unidos dizem que só apoiarão com a adesão geral, que esbarra na China e nos demais países emergentes, o Brasil incluído, pois estes entendem que a responsabilidade primeira e maior é dos industrializados.
Nesse cenário, começam a proliferar estudos de instituições científicas que pregam a necessidade de dar ênfase a programas tecnológicos capazes de levar a soluções. Um deles, do think tank britânico Policy Exchange, diz que a Europa precisa repensar seus caminhos e adotar novas tecnologias para reduzir emissões – inclusive a do sequestro de carbono na origem (empresas que queimam combustíveis fósseis, principalmente geradoras de energia) e sua estocagem no fundo mar ou no fundo da terra. É uma tecnologia já analisada pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que afirma haver questões geológicas e hidrológicas ainda não respondidas, se a estocagem for em locais profundos em terra; e registrou a condenação dos especialistas em biodiversidade marinha, que apontam para um “desastre” se o caminho for o fundo do mar, já que ali, sem possibilidade de contenção, o carbono se espalharia, acidificaria as águas e devastaria a biodiversidade.
Já a Agência Internacional de Energia diz que é possível multiplicar por dez, até 2050, a produção de energia a partir de fontes geotérmicas – e isso significaria chegar a 3,5% da produção total de eletricidade e 3,9% do calor (hoje em 0,3% e 0,2%, respectivamente). O jornal The Guardian (15/6) “vazou” documentos que supostamente seriam do Painel do Clima e recomendariam novas estratégias, baseadas em geoengenharia. Elas incluiriam, por exemplo, a dispersão de aerossóis na atmosfera, para refletir de volta a luz solar e diminuir o aquecimento na Terra; cultivos de alimentos com bioengenharia, para mudar a cor e refletir mais a luz do Sol; dispersão de nuvens de cirros, para favorecer a dispersão da energia solar; sepultar charcos e reduzir a emissão de metano; pintura, em larga escala, de tetos, para aumentar a reflexão; “sugar” gases da atmosfera e depositá-los nos oceanos. Tudo isso foi discutido em recente conferência em Lima, no Peru. Outros cientistas propõem ainda reduzir a produção de black carbon (negro de fumo), altamente poluidor, na indústria, em fornos, no escapamento de veículos mal regulados.
Em contrapartida, a Agência Internacional de Energia introduz mais um complicador: a eventual redução de 50% na expansão da energia nuclear, em consequência do desastre de Fukushima, aumentará as emissões de carbono em 30% até 2050 – quando, dizem os cientistas, estas precisarão estar reduzidas em 60%, pelo menos.
Que fará o Brasil, que já emite mais de dois bilhões de toneladas anuais de gases – quase 60% nos desmatamentos e queimadas, 19% na agropecuária, 15% na geração de energia, 3,6% na indústria, 1,9% nos resíduos (lixo)? São Paulo aprovou uma política estadual para reduzir emissões. E todos os Estados estão obrigados a apresentar, até o final deste mês, seus planos para controle de poluição por veículos. Mas na Amazônia as questões voltam a se complicar: em maio o desmatamento foi 72% maior que em maio de 2010; de agosto de 2010 a maio de 2011 foram 24% mais que em igual período anterior; “florestas degradadas” (exploradas e queimadas, não derrubadas), no mesmo intervalo de tempo, cresceram 363% mais que no anterior, segundo o Imazon.
O professor Gylvan Meira Filho, que já comandou a política nacional do clima, pensa que não haverá mesmo acordo global na África do Sul, a não ser que nas próximas reuniões se aprove um “mandato” – que ainda não há – para isso. Quanto ao Protocolo de Kyoto, se se conseguir algum avanço, será pequeno, ainda que já haja um “mercado” de carbono expressivo.
Haja esperança.
* Washington Novaes é jornalista – [email protected].
** Publicado originalmente no jornal O Estado de S. Paulo e retirado do site IHU On-Line.