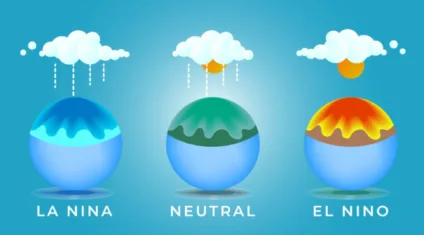Roma, Itália, julho/2010 – O comportamento dos bancos recorda os bailarinos do folclore balcânico, que se olham cara a cara, aplaudindo uns aos outros, e depois se viram de costas. Emprestam mais dinheiro do que podem dispor, a credores que não poderão devolvê-lo, mas sabendo que para impedir que quebrem e se instale o caos serão resgatados com fundos públicos (dos contribuintes). E, uma vez que os recebem, recomeça o ritual.
Ninguém sabe até quando essa dança continuará. O certo é que na Europa a crise não está em Atenas, mas em Bruxelas. Os governos da zona do euro aceitaram a entrada da Grécia para a moeda comum sem fazerem os controles necessários, apesar das suspeitas de que os números eram falsos e que Atenas tinha um déficit muito maior do que o declarado.
Uma vez que a verdade veio à luz, havia duas alternativas: aceitar que a Grécia está quebrada e passar a conta a todos que facilitaram seu gigantesco endividamento, incluindo os bancos europeus e norte-americanos, ou os Estados da região se encarregariam dela. Os Estados fazem empréstimos monumentais à Grécia para que continue vivendo dia a dia, sabendo que nunca poderá devolvê-los. De fato, quanto mais Atenas reduz o gasto social, mais diminui a renda e a ocupação, de maneira que os impostos caem em queda livre e o déficit se mantém.
Contudo, aconteça o que acontecer, os bancos não se tocam. Se faz todo o possível para conter os déficits fiscais e evitar que os bônus da dívida dos países sejam desqualificados pelas agências certificadoras (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch), as mesmas que avaliaram a solidez de Wall Street antes do desastre financeiro de 2008.
Os déficits fiscais são enfrentados aumentando os déficits sociais: demitindo centenas de milhares de pessoas, cortando serviços de saúde e educação, e todas as atividades estatais que a moda atual considera que o setor privado pode fazer melhor, mais barato e com mais ética.
No entanto, basta ler alguns dados recentes para questionar a ética do setor privado.
A RG Associados, uma empresa de pesquisa independente de Baltimore examinou as 500 empresas “top” da Standard & Poors’s e comprovou que os salários de seus executivos subiram, em 2010, 13,9%, num total de US$ 14,3 bilhões, soma equivalente ao produto interno bruto do Tajiquistão, que tem mais de sete milhões de habitantes.
Enquanto o valor de mercado de 179 destas empresas caiu entre 2008 e 2010, seus executivos receberam aumentos. No caso da grande seguradora Alleghran, seus executivos receberam em média US$ 2,6 milhões em salários líquidos, equivalentes a 50% dos lucros da companhia. Várias empresas pagaram aos seus dirigentes somas superiores às que lhes corresponderiam segundo o valor de mercado.
Outro dado do qual não se fala é o dos lucros das empresas norte-americanas no exterior e lá instaladas para não pagar impostos ao repatriá-los. Esses ganhos foram estimados na bagatela de US$ 1,5 trilhão e as empresas pretendem, no caso de repatriá-los, pagar apenas 5,25% de impostos, em lugar dos 25% correspondentes.
Argumenta-se que isso representará US$ 50 bilhões de renda fiscal e que com estes fundos as empresas criariam muitos empregos. Os lobistas falam de 400 mil novos postos de trabalho, mas esquecem que graças à anistia do presidente George W. Bush, em 2005, voltaram aos Estados Unidos US$ 312 bilhões, dos quais 92% foram distribuídos entre os acionistas, e muito pouco, ou nada, foi reinvestido. Pior ainda, as 15 maiores empresas utilizaram esse dinheiro para demitir trabalhadores, fechar fábricas e fazer novas operações no exterior à espera de outra anistia.
Exemplar é o caso da gigante farmacêutica Merck, que repatriou US$ 15,9 bilhões e os destinou ao fechamento de fábricas, deixando sete mil dependentes na rua e transferindo atividades para fora dos Estados Unidos.
Apesar disso, hoje em dia a imprensa financeira norte-americana insiste no grande negócio que seria para o Estado o regresso ao solo pátrio dos lucros das empresas norte-americanas obtidos no exterior. E, apesar da experiência da anistia de Bush, não pedem controle sobre sua utilização. Somente – argumentam – um empresário sabe como defender os interesses de sua empresa, e isto se reverte no bem comum.
O problema é que um observador frio vê que os Estados Unidos estão em uma séria crise financeira. O Congresso e a Casa Branca estão paralisados e não acertam em dar respostas à crise.
Se os empresários norte-americanos tivessem a ética que se atribuem, e realmente se interessassem no bem de seu próprio país, e pagassem seus impostos sobre ganhos obtidos no exterior, aceitariam os 25% de lei. Isto, sobre US$ 1,5 trilhão chega a US$ 375 bilhões, uma quantia que, bem investida, poderia resolver alguns problemas da economia norte-americana.
Em outras palavras: a ética, segundo Wall Street, é a virtude que coloca a conveniência dos empresários acima de qualquer outro valor. Envolverde/IPS
* Roberto Savio é fundador e presidente emérito da agência de notícias Inter Press Service (IPS).