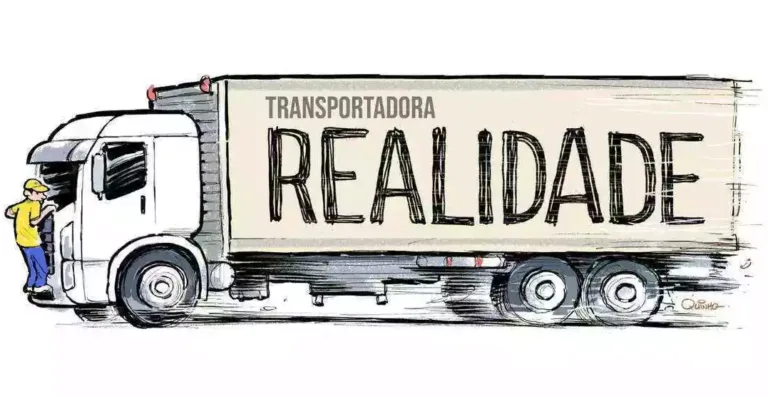Roma, Itália, outubro/2011 – A aprovação em dezembro de 2007 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) da Resolução para a Moratória Universal das Execuções Capitais foi uma etapa fundamental não só da campanha contra a pena de morte, como também na afirmação do Estado de direito e dos direitos naturais historicamente adquiridos, apesar de frequentemente não respeitados.
Roma, Itália, outubro/2011 – A aprovação em dezembro de 2007 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) da Resolução para a Moratória Universal das Execuções Capitais foi uma etapa fundamental não só da campanha contra a pena de morte, como também na afirmação do Estado de direito e dos direitos naturais historicamente adquiridos, apesar de frequentemente não respeitados.
Os habituais cultores da realpolitik tentaram diminuir o alcance da votação dizendo que, “de todo modo, não serve para nada”. É verdade que as Nações Unidas não podem impor a nenhum país-membro a abolição das execuções, e também é inegável o valor moral do texto aprovado. Pela primeira vez, as Nações Unidas estabeleceram que a questão da pena capital pertence à esfera dos direitos da pessoa e não da justiça interna, e que sua eliminação implica um importante progresso no sistema dos direitos humanos.
Transcorridos três anos e meio, os efeitos concretos das resoluções da ONU foram vistos em numerosos países, como documenta o último informe da organização Ninguém Toque em Caim.
As abolições legais estabelecidas nestes anos nos Estados Unidos, onde em 2010 houve 46 execuções contra 52 no ano anterior, ou sua redução de fato, como parece estar ocorrendo na China, bem como a diminuição dos delitos passíveis de pena de morte também na China e no Vietnã, ou as milhares de comutações de sentenças decididas no Paquistão, Quênia, Etiópia e Birmânia, não são dados irrelevantes. Talvez não sejam o prelúdio da abolição imediata, mas seguem na direção indicada pelas Nações Unidas.
Além disso, é significativo que numerosas abolições dos últimos anos tenham ocorrido na África e, em particular, em países como Ruanda e Burundi, símbolos de um continente que na história recente foi o mais atingido por tragédias terríveis como genocídios, mutilações e violações maciças, execuções sumárias e deportações.
A ordem de prisão emitida em 2009 pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente do Sudão, Omar al Bashir, pelos massacres em Darfur foi o prelúdio na área judicial do que aconteceu em níveis político e social tempos depois em muitos países árabes: o fim do mito da invencibilidade dos ditadores no poder há décadas.
Em janeiro deste ano, após 23 anos de governo ditatorial, de Ben Ali, o governo interino anunciou a ratificação dos mais importantes tratados internacionais, incluída a abolição da pena de morte. No Egito, Hosni Mubarak corre o risco de ser submetido à pena capital que ele mesmo quis estender a até 40 delitos.
Ali Abdala Saleh, no Iêmen, e Bashar al-Asad, na Síria, ainda resistem, ao preço de uma guerra contra seus próprios povos. Muamar Gadafi foi acusado de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal internacional. No Marrocos, o rei Mohamed decidiu transformar em constitucional uma monarquia de direito divino, concedeu a graça a 92 presos políticos e comutou as condenações à morte de outros cinco. Na Jordânia, a pena de morte não é praticada desde 2006. Também no Líbano rege a moratória de fato das execuções desde 2004, enquanto o Djibuti foi adotada a abolição da pena capital na Constituição. Por sua vez, a Argélia não só votou a favor da moratória como também a patrocinou.
Para acabar realmente com o aberrante princípio de que a vida deve ser defendida causando a morte, é preciso que os países que apoiam a moratória a façam respeitar em todas as circunstâncias.
Mas, nem tudo é cor-de-rosa. Do informe surge que o Irã, que nos últimos anos ostenta o horrível primeiro lugar dos países-verdugos, festejou o começo do novo ano com uma orgia de execuções. Na Coreia do Norte, estas triplicaram com relação aos anos anteriores. No Iraque, nunca parou, nem mesmo sob o “democrático” governo de Nouri al-Maliki.
Tanto na China quanto no Irã, Coreia do Norte e Iraque, conforme é habitual, será a “diplomacia paralela” do Partido Radical que deverá substituir as carências dos poderes oficiais do mundo considerado livre, civil, abolicionista. De fato, foi o líder radical italiano Marco Pannella que começou, após o anúncio da condenação à morte no Iraque de Tarek Aziz, uma greve de fome para conseguir uma “moratória da pena de morte também para Aziz”. Para romper a trágica continuidade com o que estava em moda na época de Saddam Hussein, mas também para salvar uma testemunha-chave para a reconstrução da verdade histórica sobre os fatos que caracterizaram a história iraquiana até a guerra. Guerra que, já está claro e documentado de várias formas, foi deflagrada por George W. Bush e Tony Blair precisamente para impedir que se instalasse a paz e se concretizasse nosso objetivo de um Iraque livre por meio do exílio de Hussein e de uma administração da ONU para garantir a situação. Envolverde/IPS
* Emma Bonino é dirigente do Partido Radical e vice-presidente do Senado italiano.