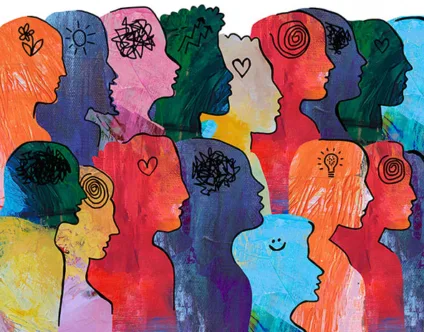O juiz autorizou o consórcio responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte a retomar as obras, paralisadas pela ocupação do canteiro principal por 170 índios, que praticaram ato semelhante um mês antes. Depois de destruírem o documento oficial, os índios cantaram e dançaram para reafirmar sua decisão de se manter no sítio Pimental, sob o cerco de tropa militar e da polícia. Esse é o maior canteiro de obra em execução em todo Brasil. O orçamento da usina, que será a terceira maior do mundo em potência instalada, quando concluída, até o final da década, é de 30 bilhões de reais.
Muitas ordens judiciais já deixaram de ser obedecidas ou foram apenas parcialmente cumpridas no país. Mas provavelmente em nenhuma outra ocasião a recusa foi tão frontal, feita escancaradamente diante dos representantes do poder público encarregados de pôr em prática a decisão de um magistrado. Qualquer outro cidadão que agisse dessa forma seria preso na hora e enquadrado em vários dispositivos penais, que o manteriam atrás das grades a partir daí.
Fortalecidos por essa vitória, os índios conseguiram obrigar as autoridades da república a providenciar que todos fossem levados de Altamira a Brasília em avião especial do governo. Foram em seguida recebidos em audiência pelo ministro Gilberto Carvalho, o palaciano mais próximo da presidente Dilma Rousseff, que não lhes concedeu audiência (e, a partir daí, seguindo, ao que parece, uma ordem tácita, todo o primeiro escalão da administração federal).
Insatisfeitos, os índios ocuparam a sede da Funai. Interromperam por vários dias o expediente na Fundação Nacional do Índio, que é autarquia especial da administração federal e o tutor dos índios, menores para todos os efeitos legais se não foram emancipados (e raros o foram até hoje).
Irritados com o serviço de hospedagem, impuseram ao órgão melhoria no trato. Mais irritados ficaram por não conseguirem novas audiências com potestades brasilienses, dentre as quais o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, erigido à condição de herói nacional (infeliz o país que precisa de heróis, advertiu o poeta e teatrólogo alemão Bertolt Brecht, com sábia premonição no nosso caso). E, sem dar continuidade ao curto diálogo iniciado, subiram hoje no avião oficial e voltaram ao local de origem sem trazer na improvisada bagagem o troféu pretendido.
Os índios mandaram seu recado de forma tão extremada quanto ao rasgar o papel da justiça: não aceitam que Belo Monte continue a ser construída; não aceitam, aliás, mais nenhuma hidrelétrica nas terras que ocupam. Já o governo, entre vacilações e tibiezas, entre avanços e recuos, não deixou também de fixar uma posição: vai continuar o seu programa de obras, que deverá garantir a participação de mais de 70% da energia de origem hídrica na matriz energética nacional.
No seu entendimento, assim deve continuar porque essa é a fonte mais abundante, mais barata e mais limpa de energia. Sem utilizar os rios caudalosos da Amazônia, o Brasil, destituído (a curto e médio prazo) de alternativas à altura, teria que ficar sujeito ao risco de blecautes ou a ter que reduzir ainda mais o incremento da atividade produtiva. Comprometeria assim o seu crescimento futuro.
Apesar dos esforços –sinceros ou demagógicos, eficientes ou incompetentes– para uma solução negociada, com o prevalecimento da razão, o impasse leva ao confronto e à vigência de uma lei não escrita que é tão antiga quanto a civilização humana: a do mais forte. Não há a menor dúvida sobre quem é o mais forte: aquele que decidiu continuar Belo Monte e o vasto programa de hidroeletricidade na fronteira amazônica, ao final do qual a região terá acrescentado 50% de energia nova à capacidade instalada atual em todo país.
Que preço o governo estará disposto a pagar na hipótese de dar prosseguimento ao seu programa, mesmo enfrentando todas as forças de resistência dos índios dos vales dos rios Xingu e Tapajós, no Pará, hoje o quinto maior produtor de energia do Brasil e o terceiro maior exportador de energia bruta (aquela que vai para fora das suas divisas e se transforma em produtos acabados em outros Estados)?
Há sempre os que apostam no recuo dos índios depois de atitudes radicais, como as que tomaram nas duas últimas semanas. Esses setores acreditam que os índios chegam a esse ponto manipulados por seus aliados explícitos, como ONGs ou intelectuais de esquerda; ou atores invisíveis, como países e empresas que boicotam os esforços dos brasileiros pela ascensão ao topo da ordem econômica mundial.
Radicais de ambos os lados à parte, uma solução adequada para o problema, uma vez que ele alcançou a gravidade do estágio atual, não é fácil. A gravidade resulta, em maior medida, da filosofia do fato consumado que os executores desses empreendimentos de grande porte adotam. Eles acham que todos os questionamentos e resistências serão atropelados pela dimensão gigantesca que esses projetos assumem. Como cogitar a sério a interrupção e cancelamento de uma obra de R$ 30 bilhões, dos quais R$ 7 bilhões já foram aplicados?
Tem sido assim quase sempre, sobretudo durante o regime militar. Os tecnocratas contratados para dar embasamento aos movimentos no rumo da criação do Brasil Grande, o sonho geopolítico da ditadura, trabalhavam em seus gabinetes e laboratórios para conceber intervenções drásticas e profundas na Amazônia.
Assim, de surpresa, prontas e acabadas, fulminantes como um raio, foram apresentadas à opinião pública grandes estradas de integração, a colonização extensiva, a formação de enclaves minerais, as hidrelétricas e tudo mais que permitiu transformar a região na segunda maior produtora de dólares para o Brasil, saindo quase do nada em menos de meio século. O impacto da surpresa anestesiava possíveis reações. Prevenia até a compreensão do que era anunciado.
Construir os “grandes projetos” sob uma ditadura foi relativamente fácil, à parte os desafios de engenharia, que não foram poucos nem simples (mas também nem sempre as soluções foram as melhores ou mesmo as possíveis). O povo em geral e os intelectuais em particular estavam sob controle, imobilizados, comprados ou se alienaram dos atos decisórios. Na democracia é diferente. E a grande diferença é como encarar minorias.
Os índios, por exemplo, das menos expressivas minorias, numericamente falando, mas das que mais repercussão provocam com sua participação. A democracia, por enquanto, em relação a este aspecto, é mais uma extensão dos 21 anos anteriores a 1985 do que uma ruptura com esse padrão categórico, autoritário. Ao menos na Amazônia, ela continua a ser uma planta frágil e indefesa, como a descreveu, com uma retórica exata, o tribuno João Mangabeira.
Promover a aproximação do que chamamos de civilização de povos cujo isolamento até recentemente os tornou expostos aos efeitos nocivos dessa aculturação, não é apenas uma exigência de resposta prática aos índios como também uma revelação do interior da própria sociedade moderna. O distanciamento crescente entre a situação de fato, que é o contato caótico e descontrolado dos índios isolados com frentes pioneiras e uma – digamos assim – socialização perversa ao mundo do “branco”, e a situação legal dessas comunidades, sob a tutela de um órgão estatal, constitui o maior problema para uma posição equilibrada e fecunda.
Enquanto não se emanciparem legalmente, os índios não podem tomar as atitudes que adotaram no último episódio de conflito em Belo Monte sem acarretar consequências para a Funai, detentora do poder tutelar sobre eles. É a fundação quem deveria pagar a conta em sua ampla escrituração. Mas também faltaria aos índios a autoridade legal – e mesmo a autoridade legítima – para rejeitar e inviabilizar uma obra pública (e mesmo uma obra particular).
Não há dúvida que, em qualquer situação, sua manifestação em audiências públicas sobre a construção de hidrelétricas em seu território é, como a própria designação deixa implícito, de caráter consultivo e não deliberativo, assim como em relação a toda comunidade nacional. As instâncias deliberativas são o legislativo e o executivo, condicionados à apreciação judicial.
A legitimidade é um dado tão importante quanto a legalidade. Não basta que os índios não queiram determinada obra em seus domínios: é preciso que demonstrem a nocividade do empreendimento, na premissa (sujeita também a provas) do seu enquadramento legal e técnico. Essa atitude, contudo, não pode ser restrita a hidrelétricas: tem que se aplicar também a fazendas, estabelecimentos florestais, garimpos, mineração e todas as demais atividades, às vezes mais flagrantemente destrutivas do que o barramento de um rio. Não por seu significado em si, mas porque, sendo mais pulverizadas, se tornam ainda mais destrutivas pelo conjunto das suas muitas unidades, que, no caso do grande projeto, é singular.
Por outro lado, cabe a observação fundamental: como o autor do grande projeto quer o acatamento dos mais antigos e permanentes habitantes in situ se sequer conseguiu convencer a sociedade nacional? É impressionante ainda haver pendentes tantos e tão questionamentos técnicos à viabilidade econômica (e mesmo de engenharia) da usina de Belo Monte.
Os engenheiros e demais participantes da obra desprezam esses críticos e consideram-nos pouco mais do que asnos. Por que, então, se recusam a participar de um debate público sobre temas concretos constantemente suscitados pelos que não acreditam na viabilidade da hidrelétrica? A certeza monolítica interna em contraponto com as dúvidas exteriores é um passaporte certo para que as crises persistam e se agravem. O silêncio, nesse caso, é desastroso.
* Publicado originalmente no site Adital.