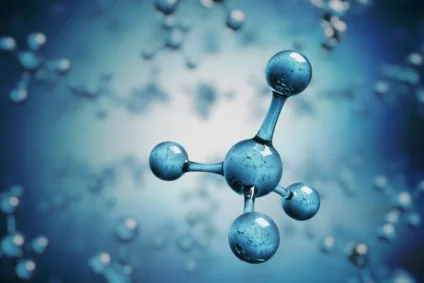E aqui chegamos, às utopias
Nos anos 90′, o antropólogo Rubem Cesar Fernandes, com quem trabalhei na ONG ISER, no Rio, escreveu um livro pequeno intitulado “Dicionário das Ideias Passadas – Um diálogo entre José e Joseph”, onde ele simulava uma conversa entre um militante socialista brasileiro e alguém que tinha vivido o socialismo real, no Leste europeu, sob a ditadura soviética. Não tenho mais o pequeno volume, mas era bem instrutivo – revisionismo bem típico do momento que podemos chamar de pós queda do Muro de Berlim.
Quando espicho o olhar para a minha militância na esquerda, desde muito jovem (com períodos de casulo, lagarta e borboleta – conforme a Ditadura no Brasil foi se tornando violenta e duradoura), me dou ao direito de ter um olhar generoso.
Vejo ingenuidade e idealismo naqueles verdes anos, de um lado; de outro um aprendizado sistemático (porque estudávamos muito) sobre a brutalidade da exploração, sobre a insuportável opressão a que é submetida a classe trabalhadora e sobre como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e tudo o mais – desde a champanhe às viagens, e o dolce far niente de férias regulares à beira mar – são na verdade para o desfrute de poucos.
Qual o jovem que não quer ver a justiça no mundo?
Que coração que ainda não se deixou empedernir não deseja que os bens econômicos e culturais sejam melhor distribuídos?
Qual indivíduo que sofreu na própria pele discriminação pela cor, pela religião que professa, pelo lugar onde é obrigado a morar, pela “classe social” a que pertence, não carrega em si um revolucionário em potencial?
A utopia nasce como resposta desesperada à opressão. Nasce do poder criativo que temos de criticar o que em nós é brutal e desumano. É um projeto de reforma do material humano e social. E é o motor da esperança.
Aos 16 anos, entre beijos e nenhum tapa, pelas mãos macias e quentes de um “hermano” entrei para uma nova catequese. Objetivo? Mudar o mundo. O método? A destruição da “democracia burguesa” e a implantação da ditadura do proletariado.
Para uma pequeno-burguesa como eu (e olhe que a minha única sofisticação naquele momento era tomar martini doce e usar sutiã com enchimento) a salvação era desenvolver uma solidariedade consistente com a classe operária. Por consistente entendia-se abandonar todos os hábitos burgueses, e ajudar a criar “as condições objetivas” para que a revolução acontecesse.
Assim, deixei por um tempo de ir à missa e comungar do “ópio do povo”; andava com os “pensamentos de Mao” na bolsa e comecei rapidamente a me familiarizar com o dicionário político socialista-comunista. O “foquismo” do camarada Tche e o exemplo de Cuba; o dilema entre criar um partido de massas ou um partido de quadros? Lênin, Marx e Engels em discursos, opúsculos, teses. E o “renegado camarada Kaustsky”. Operários do mundo, uní-vos!!!
Nunca pisei num chão de fábrica. Só fui ao ABC uma vez, muitos anos depois. E li sim Henfil na China, só não lembro quando.
Mas ser burguês me pareceu uma coisa bem repulsiva. Abandonei rapidamente leituras como “Memórias de uma Moça bem Comportada” de Simone de Beauvoir e embarquei diligente na biografia do Cavaleiro da Esperança, Prestes pelas lentes de Jorge Amado.
Naquele ano em que amor e revolução se misturaram, tomei duas decisões: cortar o cabelo que usava liso e longo graças à touca (que fazia todas as noites), e não usar maquiagem (hábito que continuei adotando no meu pós comunismo); tentei aprender a fumar, pois todo mundo que me parecia inteligente fumava, mas não fui adiante. E cachaça, definitivamente tentei mas não deu. Por um tempo deixei de beber completamente os coquetéis de fruta e os ponches – por serem burgueses demais.
Descobri uma miopia avançada e passei a usar óculos. Fui adquirindo, na minha cabeça, a aparência de uma intelectual que me agradava bastante.
E não fui adiante com aquele projeto de ser comunista, assim que o AI-5 foi promulgado em dezembro de 1969, e quando abruptamente Durán, meu amor juvenil, anunciou que ia sair do País. Pediu que eu guardasse uns 40 livros na minha casa.
Me deu um contato que jamais contatei, recomendou que não lesses os livros que me deu em público, e que tomasse “cuidado”.
Terminei o Ginásio e a pressão em casa era que eu fizesse um curso técnico, para poder ter uma profissão.
Naquele tempo não havia universidade para todo mundo. O vestibular era um funil perverso e todos os anos milhares de jovens “sobravam” literalmente e desistiam, ou tentavam nos anos seguintes.
Não existia o sistema privado que existe hoje e a reforma da educação, a la Jarbas Passarinho e USAID – não havia sido feita ainda. Sim, a universidade pública e gratuita era elitista sim senhor, é bom que se diga. O tal do “mérito intelectual” na época era puro privilégio de quem frequentava as melhores escolas secundárias. Nunca tive um colega preto, nem no Ginásio nem na escola secundária pública na qual ingressei, contrariando a orientação dos meus pais. Sucesso profissional era ser médico, engenheiro e advogado, e na última posição da escala professor. A palavra empresário não era valorizada.
Sem curso universitário, nada de sucesso.
Em 1970, em pleno clima de Copa do Mundo e de “90 milhões em ação, salve a seleção “, eu me tornei aluna de uma escola pública.
A família tinha se mudado para uma casa, finalmente, num bairro “para os lados de Santo Amaro”, perto da Estátua do Borba Gato, um monumento à feiúra. Meu padrasto abandonou o rádio e se tornou um executivo do selo de discos Chanteclair. A situação econômica melhorou e minha linda mãe se tornou uma mulher “do lar” – parou de trabalhar.
A solução mais prática era estudar no bairro onde morava. Naquele momento, havia intervenção nas escolas, e um tenente-bombeiro nos ministrava aulas de “educação moral e cívica “.
Naquela escola de bairro conheci parte da classe operária, a tal que via descrita nos livros. Eram rapazes e moças que trabalhavam duro durante o dia e estudavam à noite, carregando marmitas nas mochilas. Não tinham tempo de ler livros nem jornais, somente apostilas mimeografadas, amassadas – com resumos grosseiros. No período da manhã, a escola funcionava como primária, à tarde como ginásio e somente à noite oferecia o curso secundário.
Não me adaptei bem àquele ambiente e me deprimi.
Logo busquei outras paragens e ingressei na escola pública dos meus sonhos: Ministro Costa Manso, na rua João Cachoeira, no Itaim.
Caminhando para os 18 anos, arranjei emprego, estudei numa escola progressista, e voltei para o ninho, só que não: agora era a vez de experimentar o marxismo cristão.
… continua no próximo Post.
Samyra Crespo é cientista social, ambientalista e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e coordenou durante 20 anos o estudo “O que os Brasileiros pensam do Meio Ambiente”. Foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace de 2006-2008.
Este texto faz parte da série que estou escrevendo sobre os anos da minha formação e de como me tornei ambientalista nos anos 90.
(#Envolverde)