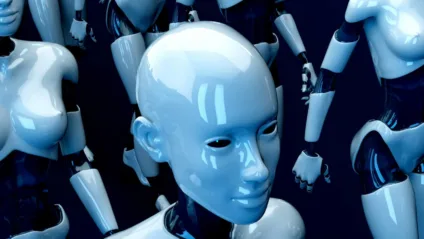Ativista, arquiteta e psicanalista em formação, a paulistana Joice Berth se impõe como uma voz potente para o entendimento e o enfrentamento das injustiças sociais que se perpetuam na sociedade
Se posso dizer que uma das mesas da Flip 2023 me deixou em estado de graça, foi a número 8: Uma Prisão Mortal. A mesa, que abriu os trabalhos do dia 24 de novembro, trouxe à cena três verdadeiros furacões femininos: Joice Berth, Manuela d’Ávila e Denise Carrascosa. Foi uma conversa forte, verdadeira, sem papas na língua, sobre preconceito, injustiça, ativismo e compromisso social.

Joice Berth, a primeira a falar, logo me conquistou pela doçura e pela energia, ao mesmo tempo. Suas posições firmes e positivas convidavam ao diálogo. Mas vale dizer: sem dourar as pílulas indigestas do preconceito e da discriminação, a pior das doenças sociais que desqualificam a humanidade. E o mais grave: é contagiosa.
Mais tarde, pensei que gostaria de continuar a conversa com a Joice aqui em Plurale. Por uma espécie de ligação direta mental, horas depois, eu comentava com meu amigo Rafael Sento-Sé, da Comunicação da Editora Record, a forte impressão que Joice Berth me causara. “Ela é a cara da Plurale”, sorriu ele. Daí nasceu esta entrevista, que reputo calorosa e humana. Conversamos no dia seguinte, após mais uma mesa triunfante e lotada na Casa Record, editora que acabara de lançar o mais novo livro da autora: Se a cidade fosse nossa, um mergulho na lógica colonial por trás da formação das cidades brasileiras.
Joice Berth se reconheceu como autora quando começou a participar de um grupo de ativistas exclusivo para mulheres negras. Participava, mas contou que no início não tinha coragem de enviar textos; com o incentivo do grupo, porém, passou a colaborar e a receber elogios. – Foi aí que comecei a acreditar que podia escrever – relembra.
Formada em Arquitetura há 12 anos, Joice é hoje uma psicanalista em formação. Aos 14 anos teve o primeiro contato com a obra de Freud. – Achei muito legal, mas na verdade não entendi nada – sorri. – Só mais tarde é que voltei ao Freud e li também um pouco de Lacan e Jung, para ficar nos clássicos – conta.
– Embora eu fosse, desde sempre, voltada para a observação do funcionamento humano, do comportamento humano, das relações – e de como a gente se comporta para além daquilo que todo mundo tá vendo -, pra mim foi fundamental o encontro com a obra de Virgínia Leone Bicudo (1910-2003) – revela.
-Pra mim isso foi decisivo. É porque eu ficava assim: “Ah, vou estudar psicanálise, esses homens brancos etc. – será que vou me identificar?” Porque eu gosto de me identificar com o que estou fazendo, né? Foi aí que conheci a Virgínia Bicudo falando sobre questões raciais. A dissertação de mestrado de Virgínia, em 1945, tratava das relações entre pretos e pardos na São Paulo da década de 1920. E aí fiquei muito apaixonada pelos escritos dela, comecei a pesquisar mais sobre sua história e então descobri que ela também foi psicanalista, uma das pioneiras da psicanálise. No Brasil e no mundo, porque ela foi uma das primeiras psicanalistas não médicas. Na verdade, foi a primeira profissional não médica a ser reconhecida como psicanalista no país. Ela nunca foi médica, foi só psicanalista. E aí isso me incentivou – conta.
Joice decidiu se inteirar mais e começou a descobrir as psicanalistas mulheres, feministas e outras psicanalistas negras, como a Neusa Souza e tantas mais. E aí ficando cada vez mais apaixonada. – Acho que este é um campo de estudo que nos permite refletir sobre o nosso interior; nosso inconsciente. Acho que o inconsciente é a grande descoberta do Freud – não exatamente uma descoberta, mas uma formalização – e acho que tem muita coisa pra se estudar nesse campo. Acho muito bacana que a gente já tenha a neurociência tão fortalecida, que vai inclusive fornecendo alguns diálogos com a psicanálise, porque penso que é cada vez mais importante seguir esse olhar pras questões psíquicas do humano, porque acredito que ainda tem muita coisa pra se resolver nesse caminho.
Joice Berth e a repórter Maurette Brandt, de Plurale, na FLIP, em Paraty.
Perguntei a Joice, então, onde é que entra a influência da psicanálise na sua vida, do ponto de vista da observação da questão racial e inter-racial.
– Olha, este é um caminho que estou construindo ainda, que estou trilhando. Porque fico pensando em todas as questões teóricas que a psicanálise traz – como a questão da inveja, por exemplo, do auto-ódio – enfim, essa coisa do inconsciente: o que é que pára no nosso inconsciente, que continua atuante e que a gente não sabe? Acho que isso é muito importante para nós, que somos destes grupos minoritários; porque a gente é bombardeada de informação desde criancinha. A primeira vez que passei por um caso de racismo, eu tinha oito anos de idade. Foi na escola. E eu lembro porque tenho uma memória um pouco diferenciada, principalmente para fatos passados. Mas tem muita gente que está sob efeito de traumas que vêm dessa questão racial – sofreram racismos pesadíssimos na infância ou na adolescência – e de alguma forma aquilo foi mal processado; isso interfere. Por exemplo, tem estudos que falam que tem uma quantidade enorme de pessoas negras em depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, esses transtornos todos – explica.
Joice questiona a relação entre negros também. – E essa também foi uma inspiração da Virgínia Bicudo – destaca. – Ela estuda, nesse livro, as relações dentro do grupo da negritude, ou seja, entre pretos e pardos. Virgínia era uma mulher parda. Então foi estudar essas relações justamente porque, na percepção dela, o grupo precisa estar unido; e o grupo tem dificuldade de se unir. E uma das dificuldades é a questão da imagem. Para eu respeitar o outro, é preciso me respeitar; eu preciso gostar de mim. Porque se eu não gosto de mim, não vou me martirizar; vou projetar no outro esse meu desgosto – e é o outro que vou querer destruir, para que eu não tenha que me destruir. Então é um mecanismo muito complexo, na verdade, mas que faz muito sentido.
– Tem nomes técnicos na psicanálise pra isso – projeção, sublimação, esses mecanismos de defesa, né? – continua Joice. E penso que, nas minorias como um todo, quando você olha o relacionamento entre os grupos minoritários – das mulheres, da negritude, LGBT – vê que existem conflitos que, muitas vezes, barram a luta toda. E aí, como exemplo, uso aquela fala que é muito repetida, : “O próprio negro é racista com ele mesmo”, né? “O próprio negro não se gosta porque ele só casa com branca” – cita. – Tudo isso é real, mas tem um motivo pra isso. E é esse motivo que acho que vale a pena a gente investigar – e encontrar caminhos que possam fornecer ferramentas individuais para que as pessoas se tratem. Porque a psicanálise, acima de tudo, inclui uma autonomia da pessoa analisada; uma vez que a pessoa descobre o conteúdo que está no seu inconsciente, e que continua martirizando e gerando uma série de problemas que se traduzem na relação dela com as outras pessoas, vai achando caminhos pra controlar isso, pra mediar isso da melhor maneira e não se prejudicar – analisa.
Perguntei então se é difícil a percepção do sentimento, por parte da pessoa agredida – já que, segundo a própria Joice, a pessoa agredida dificilmente processa a agressão.
– Isso é como machucar de novo, né? Porque a pessoa, desde criança, está sendo bombardeada por injúrias raciais. Então, chega um certo momento em que os machucados que essas injúrias vão causando, eles vão se acumulando. Quanto mais acumulados, mais frágil é a resposta da pessoa diante disso, entende? É esse caminho que eu quero investigar, pra que a gente não faça, não só à pessoa negra, mas às mulheres como um todo, também, porque as mulheres ainda têm muito essa coisa de ser criticadas por causa do corpo, né? A mulher está sempre sendo cobrada, criticada, sobrecarregada. E muito disso está nela própria; mas não está nela própria porque ela tenha isso. Está nela porque a sociedade jogou pra cima e ela internalizou. E aí ela própria vai se ferindo e se “re-ferindo” continuamente, até entender que pode se desfazer disso tudo.
Sobre a militância
-Olha, costumo dizer que a militância começou justamente no momento que eu entendi que ia ser tratada no mundo de uma maneira diferente por ser negra, né? Com oito anos de idade, eu me lembro que estava numa escola particular – que minha mãe se “matava em dois empregos pra pagar, e meu pai também, numa família de quatro irmãos. Mas as pessoas falavam pra minha mãe que eu tinha chance de crescer na vida, que ela tinha que investir em mim. Então minha mãe achava – aliás, já tinha essa percepção – que o estudo é que faria falta, porque, na família, ninguém tinha estudo. Então ela queria investir. Daí fez das tripas coração pra conseguir pagar uma escola melhorzinha, que era uma escola particular de terceiro nível, de bairro e tal. E aí, na sala só tinha eu e mais uma coleguinha negra, que é minha amiga até hoje, inclusive. O nome dela é Adriana. E aí. naquele dia, ela tinha faltado . A gente não tinha amizade com as outras crianças; elas só se aproximavam da gente pra pedir alguma coisa, ou pra rir, brincar – fazer aqueles bullyings de criança, sabe? E aí a gente se fechava ali, e ficamos muito amigas por causa disso. Pois bem, dia ela tinha faltado.
Eu sempre fui asmática, desde criança. Hoje em dia já não tenho crises de asma, mas quando criança tinha muitas. E tinha passado por uma crise a noite toda, tomei medicação e estava tossindo, com aquele pigarro, aquela tosse. Lembro que a professora saiu da sala, pra buscar algum material, e falou pra classe ficar quieta. E aí você imagina, né, 30 crianças de oito, nove anos, ficarem quietas? De jeito nenhum. Aí a criançada viu quando a professora estava se aproximando, que ela estava vindo, e todos começaram a fazer aquele barulho! E eu sentada, porque era uma criança super retraída. Quando a professora entrou na sala de aula, eu estava tossindo. Então ela achou que eu estava imitando um macaco. E me colocou de castigo, mesmo com todas as crianças dizendo “Não, tia!” (naquela época a gente chamava a professora de tia) – “Não, tia, ela está quietinha, ela não fez nada, ela está sentada!”. Foi a professora; as crianças falaram que eu não tinha feito nada, mas ela não quis ouvir: me deixou de castigo – tipo, da uma da tarde até as cinco da tarde. Fiquei de castigo num cantinho, ali, afastada.
Depois que aquela professora saiu, veio uma outra professora, que era uma mulher negra parda, que tinha um filho negro também. E ela tinha uma consciência racial muito proeminente. Tanto é que se propôs a me ajudar, porque eu era uma criança muito tímida, então não perguntava as coisas e acabava indo mal noutras matérias. Daí em diante foi outra história.
Enfim, foi a professora que fez aquilo. Então eu acho que, a partir daí, comecei a entender. E no contato com a professora negra, também comecei a perceber que tinha uma questão ali. E aí, na rua de casa, a gente cresceu cercados de famílias brancas; tinha sempre aqueles atritos… Então fui falando que eu não gostava; enfim, estava sempre reclamando.
E aí foi se dando essa coisa do ativismo; vim a conhecer outras mulheres negras, como falei, no grupo em que conheci a Carla, a Djamilla, Stephanie Ribeiro, Suely Feliziani – um monte de mulheres que estão por aí, fazendo muita coisa. Acho que foi naquele momento que entendi que estava, desde sempre, ou desde muito novinha, fazendo ativismo. Porque quando eu via ou presenciava uma situação de racismo ou de outra injustiça qualquer, aquilo me tirava do sério. Eu brigava, xingava, recebia represálias dos pais: “Você tá muito brava!” (risos).
Bem, naquela altura, esta repórter ponderou que não conseguia imaginar Joice Berth como uma pessoa brava, o que provocou risos.
– Ah, eu sou revoltada – admitiu. – Falo que sou revoltada. Gostaria que a sociedade fosse diferente. Lembro de uma colega que tive na oitava série: era uma menina loira, estilo Taylor Swift, assim, com os traços bem americanizados. Era do interior do Sul e veio pra São Paulo com a família. E tinha um comportamento muito diferente do das outras meninas da mesma idade – de 13, 14 anos. Não usava roupas da moda, nem se comportava ou falava como as outras. E lembro que ela era super perseguida na escola, ridicularizada mesmo. E acabamos ficando amigas porque eu era uma das pessoas que não achavam aquilo legal e manifestava isso. Era tímida, ficava sempre quieta, mas quando tinha que falar alguma coisa desse tipo, falava mesmo. Eu dizia: vocês são idiotas! Ficam rindo dela porque ela não tem os tênis que vocês têm, e não-sei-quê! E ela chorava, eu consolava ela…
Então, as situações de desigualdade no mundo, tanto as macro quanto as micro, se manifestam nas nossas relações, nos nossos contatos. Com a minha mãe, inclusive, que tinha um machismo muito forte. Hoje em dia é diferente, mas ela tinha um machismo muito internalizado. Então, eram sempre os homens que tinham razão; eu tenho dois irmãos, e eles eram as estrelas da casa. E eu brigava, falava – relembra, rindo.
Quero entender melhor como agir e logo pergunto: o que a gente faz para abrir um caminho de empatia mais profunda, quanto à questão racial?
– Olha, o diálogo é o único caminho que a gente tem, né? – diz Joice. – E esse diálogo precisa estar muito carregado de generosidade. Um autor canônico – se não me engano, foi o Saramago – fez uma frase que eu nem sei se era dele, não tenho certeza se é, mas que achei uma coisa muito real. A frase é a seguinte: “A gente tem que tomar cuidado para não colonizar o outro”.
– É importante que as pessoas entendam mais sobre a questão racial, sobre as opressões, o machismo, a luta de classes, tudo isso – continua. – E o diálogo é a ferramenta principal que nós temos no nível individual, né? No nível coletivo, a gente tem a política, que vai exigir que as pessoas tenham um certo comportamento – e vai responsabilizar, de uma maneira mais incisiva, quem estiver saindo fora da linha. Agora, no nosso nível individual, é o diálogo o que a gente tem. Eu não posso chegar numa pessoa racista e dar um soco na cara dela, né? Como diz o Djonga, “fogo nos racistas!” – sorri. – Entendo isso como uma metáfora e um desabafo, também, né? Toda a raiva que a negritude sente sendo vítima de várias microviolências cotidianas… Mas não dá pra sair por aí pondo fogo nos racistas, claro. Até porque o racismo, nas pessoas, se manifesta em níveis diferentes, né? Eu sempre digo isto: nós estamos numa sociedade que é pautada, totalmente, pelas opressões. Então, todos nós temos as nossas fragilidades, que estão cravadas na nossa subjetividade. Então, nada impede que eu seja uma pessoa transfóbica; eu não quero ser uma pessoa transfóbica. Eu me esforço pra não ser. Mas se eu não me dedicar a entender o que é a transfobia e como isso oprime as pessoas transgênero, travestis e tudo mais, vou falar coisas que vão ferir, que vão magoar, né? Da mesma maneira que uma mulher branca – mesmo sendo uma mulher, que faz parte de um grupo oprimido – também pode ser racista. Um homem negro pode ser machista; a gente tem essa perturbação pra trabalhar. Agora, o diálogo é a melhor maneira. E a generosidade, eu digo no sentido de você entender em que nível a pessoa se encontra e até que ponto você pode chacoalhá-la para a realidade; porque eu posso chacoalhar uma pessoa que está aberta pra esse chacoalhão. E aí ela vai ficar meio perdida, vai ficar até com um pouco de raiva, mas vai acabar compreendendo. E eu posso chacoalhar uma pessoa que está totalmente tomada pelo ódio, e acha que tem razão, que racismo reverso existe – e essa pessoa pode ter uma reação não muito – hã – amigável, ou nem um pouco amigável.
– E a gente corre muito esse risco.
– Muito. Aconteceu com a Ludmilla; ela vai ser processada pelo cara, sendo que ela é vítima dele. Ele vai processá-la por “racismo reverso”, sei lá o quê, e tal. Então, até por uma questão de autoproteção, a gente tem que saber em que território está pisando, até onde a gente pode conversar, até onde a gente pode falar. E eu acho que funciona muito a gente entender justamente isso: que nós não estamos isentos. Não estamos livres; porque somos oprimidos, não estamos livres de, também, estar colaborando com a opressão de outros grupos.
– Isso é muito sério – observo.
– Muito sério – concorda Joice.
– Muito importante – e é muito difícil de lidar.
– Muito difícil!
– Pra qualquer um é. A gente fica aturdido, né?
– Exatamente! Você pode falar para uma mulher branca: “Você está sendo racista”. E ela contesta: “Como, mas eu sou mulher, eu sou feminista, eu sei que as opressões estão aí…” – Ou quando a gente fala com os homens negros também: muitos homens negros são machistas! Muitos estão abertos, se abrindo pro debate; estão se revendo, tentando se entender como homens que, mesmo sendo negros e oprimidos, são marcados por uma masculinidade branca que vai colocar neles certos cacoetes, centros vícios comportamentais que ele vai manifestar nas suas companheiras, brancas ou negras. Enfim, isso existe. Mas se a gente se conscientizar, começa a desenvolver uma certa sensibilidade, né? Tem momentos em que a pessoa fala uma bobagem racista; ela não queria falar aquela bobagem racista. Mas falta muita consciência, letramento, entendimento, para que ela compreenda. E uma vez que compreende, vai eliminar aquilo naturalmente – diz.
Penso agora na trajetória de Joice como arquiteta e em sua visão humanista da profissão.
– É, eu fiz Arquitetura – Arquitetura e Urbanismo. Não faz tanto tempo assim: tenho uns doze anos, acho, de formada. Já tinha filhos e tudo mais, quando resolvi voltar a estudar. Acho que o meu interesse pela Arquitetura vem com Niemeyer – que foi o primeiro arquiteto que eu soube que era arquiteto no mundo. Muito depois fui conhecer Lina Bo Bardi e outras arquitetas, o Paulo Mendes da Rocha (eu gostava dele) e aí fui me aprofundando. O que mais me mobiliza na Arquitetura é que ela é um grande leque. As pessoas conhecem muito pouco desse universo da formação do arquiteto. Elas se espantam quando vêem os arquitetos fazendo outras coisas e dizem: “Mas isso não tem nada a ver com Arquitetura!” Mas a formação da gente é muito ampla, sabe? E era isso que me fascinava, porque eu não gosto de ficar cercada numa coisinha só; gosto de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo.
– Sobre o seu livro, que levanta a questão das cidades: na opinião de vários leitores, ele muda completamente a visão das pessoas sobre o ambiente urbano. Do ponto de vista da questão do racismo, dentro da sua obra como arquiteta, como isso se insere?
– Olha, se insere primeiro como crítica; como um chamado para que as pessoas entendam que o espaço não está isento das opressões que a gente está discutindo na sociedade. Não adianta você olhar pra cidade e achar que ela não está dizendo nada; a cidade está dizendo tudo – e está sustentando tudo que se passa. Tudo aquilo que a Carla (Akotirene, que dividiu a mesa com Joice na Casa Record) falou sobre o sistema carcerário, sobre o encarceramento em massa, todas essas coisas estão acontecendo no espaço, né? Só que esse espaço está sendo projetado justamente para que essas coisas continuem acontecendo. Tem o Roberto Correia Lobato, uma referência que trago no livro. Ele fala que a cidade espelha as desigualdades; ela recebe esta informação e a espelha, como se retroalimentasse esse estado de coisas que se passa na sociedade. E os arquitetos, na maioria das vezes, negligenciam isso – porque é cômodo, é confortável. Se estou inserido numa porção de privilégios, por que é que vou ficar mexendo com essas coisas desagradáveis? Então eu falo que é desigual; aí todo mundo entende que é desigual e pronto. Agora, é preciso entender por que é que é desigual. Se você não entende de onde o problema está saindo, você não tem como resolver – resume.
– Mas então você não sabe que o problema vai te afetar, em algum momento? – provoco.
– Exatamente. É essa coisa de estar interligado, né? As pessoas pensam que cada um está no seu cantinho; fecho a porta da minha casa e estou livre de todos os problemas que estão acontecendo lá na Palestina, lá não sei aonde… Não está! Tudo faz parte! A gente está totalmente conectado. E se o bem não for pra todo mundo, não vai ser bom pra ninguém. Então, em maior ou menor escala, as pessoas acabam sendo perturbadas pela lógica que alimentam.
– Porque as contas vão aparecendo, né? – digo.
– É. Exatamente. E aí a pessoa fala: “Ah, eu estou no topo da pirâmide, eu tenho todo o conforto social possível, eu posso desfrutar plenamente da cidade…” Mas não é assim; é que essa pessoa também está cerceada em sua liberdade. Porque você tem a Cracolândia, você tem o estupro – então você também fica meio refém de um sistema de coisas que está prejudicando muito mais os outros, mas que de alguma forma respinga em você também.
– Então, pra você viver – tanto é que você vê, eu falei dos transtornos. Os transtornos mentais são democráticos; eles atingem todas as classes sociais, todas as raças e tudo mais. Acho que vale a pena a gente parar e pensar: o privilégio tem limite. Você está surfando nos privilégios, nadando de braçada neles, mas saiba que eles também têm limite. Não é um mar; é uma piscina.
Concordo e agradeço.
– Estamos juntas na luta – afirma Joice. – Quando assino os livros, eu sempre falo: “Que Deus te fortaleça nas suas lutas!”, porque eu entendo que todo mundo que tem contato, que busca essa leitura, é gente que está lutando por um mundo melhor. E acho que é importante que a gente se aproxime de alguma forma e saiba quem é quem. Porque dá um respiro, né? Olha, aquela pessoa ali está procurando, aquela também… Tem parcerias aí que não estão o tempo inteiro juntas, mas nossa energia está na mesma vibração – conclui.
Foto de Destaque: Grupo Editorial Record
(Envolverde)