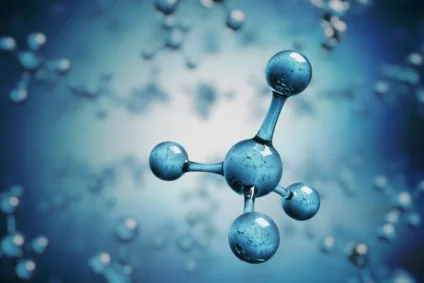A primeira biblioteca pública em que pus os pés na vida foi a Mário de Andrade, no centro da cidade de São Paulo, Capital. Eu tinha 11 anos e estudava para o “exame de admissão “. Na época, as escolas públicas eram melhores que as particulares e eu tentava entrar para a Caetano de Campos, na Praça da República – a melhor. Uma espécie de Pedro II, para quem é do Rio.
Meu primeiro mapa cultural de São Paulo foi dado pelo local de moradia dos imigrantes e pelas escolas.
Quando chegamos, três mudanças, radicais eu diria, aconteceram na minha vida de pré adolescente: conhecer o frio, a verticalização da moradia, e não ter mais empregada em casa.
Fomos morar num apartamento pequeno para família de cinco, prédio novinho, bairro ruim (assim dizia minha mãe, pois em meio a artistas pobres, misturavam-se prostitutas, cafetões e gente difícil de classificar como cartomantes e casais gays); numa rua que se espremia entre o que hoje se conhece como Bairro do Bexiga (Rua 13 de Maio, Frei Caneca e Brigadeiro Luís Antônio) e o Baixo Augusta. Meu pai foi trabalhar na Rádio Anchieta e minha mãe tentou a televisão. Nada foi muito bem para eles e o dinheiro era curto.
Preto nenhum. Judeus, refugiados de países que tinham se tornado comunistas de um lado, artesãos e pequenos comerciantes italianos do outro. Eixo cultural, ligando esses dois mundos: Rua Augusta. Ali estavam os cinemas, as casas de chá (não existiam lanchonetes nem hambúrguer), as boutiques de roupa as galerias de arte e, à medida que se distanciava da Paulista quatrocentona e arborizada por ipês, encontrávamos a boa comida italiana em um cem número de cantinas, algumas baratas e outras sofisticadas e caras.
Sair de Salvador para morar em Sampa era como sair de João Pessoa para morar em New York. Da província para a cidade cosmopolita, locomotiva do País (assim se via, assim a chamávamos).
Dos 11 aos 13 anos, percorríamos tudo isso a pé, sozinhos, acompanhados dos irmãos ou de colegas de escola. Éramos devidamente orientados a evitar estranhos e denunciar tarados. Tarado e curra. Os tarados falavam obscenidades e mostravam a genitália para as crianças. A curra era estupro coletivo.
Assim entre judeus e italianos, apelidados de carcamanos, logo descobri guetos e o preconceito robusto contra os diferentes.
Japas eram todos os asiáticos, não importa se vietnamita, coreano ou japoneses. A maioria, neste tempo – anos 60 e 70 – era japonesa mesmo e se concentrava no Bairro da Liberdade (nome paradoxal para um verdadeiro gueto). Os libaneses eram chamados de “turcos”, assim como todos os demais árabes.
Em São Paulo descobri a babel de línguas, pois até os 10 anos achava que no Brasil só se falava português.
E as línguas estavam nas famílias e nas escolas. Assim, aprendia-se francês no Sacre Coeur, italiano no Dante Alighieri, hebraico na Hebraica, e alemão numa escola famosa, da “colônia”, na Consolação. Os uniformes escolares distinguiam as tribos enquanto os hormônios da adolescência tramavam a favor da integração.
Em São Paulo descobri a sinagoga, igreja dos judeus e também que nem todo templo católico era igual, com missas sendo rezadas nos ritos melquita e maronita em bairros de maioria árabe. Muita informação para uma garota provinciana. Mas eu também era bastante curiosa.
Naqueles anos, era comum ver os rapazes da TFP, todos com cara de supremacistas brancos, fazendo proselitismo nas ruas. Cabelo “à escovinha”, carregando uma bandeira vermelha com um Leão Dourado. O Leão contra o comunismo. E também era possível ver outro bando, desta feita misto, de adeptos do Hare Krishna, vendendo incensos e livrinhos, chacoalhando seus pandeiros e usando aquelas roupas monásticas.
Aos domingos, matinês duplas no Marachá ou Majestic. Milk shakes ou Banana Split na casa que era o templo dos imberbes e dos impúberes: Yara, na Rua Augusta, perto da Rua Estados Unidos, o limite para o bairro dos ricaços (pré Morumbi, é claro!).
Se você quisesse ir ao centro, ou ao Mappin, fazer compras era só tomar o elétrico, o ônibus que substituía em modernidade o antigo bonde.
Mas o pior “diferente” e o mais discriminado apareceu na cena nos anos 70: os nordestinos, feios, sujos e malvados (parafraseando filme italiano sobre o lumpenproletariat). O malvado ficava por conta da lenda de que todos os homens nordestinos portavam uma “peixeira” – faca que puxavam em qualquer altercação. Eram uns “bárbaros “.
Chegavam aos montes, famintos, desesperados e expulsos pela seca. Chamávamos todos, independente da origem, de “Baiano “.
Em São Paulo sempre houve discriminação em relação ao imigrante e ao pobre. Mas ser nordestino e pobre era pra lá de ruim. Era estar na escala zero da sociedade.
Como era de se esperar, esses recém chegados, quando não eram reembarcados para seus estados de origem, foram parar nos bairros industriais e aos poucos Santo Amaro foi se tornando uma Feira de Santana. Isto antes da favelização, fenômeno que iria progredir celeremente nos anos seguintes.
Não passei no exame de ingresso da Caetano de Campos. Fui para uma escola particular fazer o ginásio, como se chamava. Ficava na Augusta, num casarão próximo à Confeitaria Bolonha no hoje Baixo Augusta e que ainda existe (quando confeitarias como aquela passaram a ter o nome de “delicatessen”.
Ali, na nova escola, a política entrou no meu universo e no meu repertório. Já tinha aprendido sobre preconceito e tivera muitas lições sobre a cultura de cada povo naquela cidade. Era tempo de explorar novas possibilidades.
Amanhã, conto mais.
… continua no próximo Post.
Samyra Crespo é cientista social, ambientalista e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e coordenou durante 20 anos o estudo “O que os Brasileiros pensam do Meio Ambiente”. Foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace de 2006-2008.
(Este texto é o terceiro de uma série de quatro, sobre os anos de minha formação; também uma tentativa de entender meu país e de como chegamos aqui)