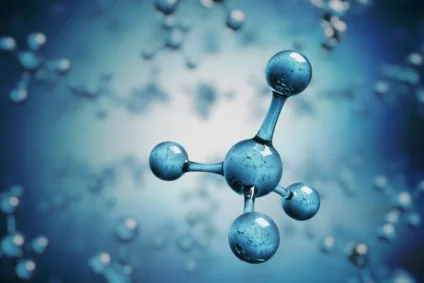Ninguém estudava inglês no meu meio nos anos 60. Fui apresentada à língua aos 13 anos, quando ganhei uma bolsa – por estar entre os 10 melhores alunos da escola; no ano seguinte consegui meia bolsa de estudos pelo mesmo motivo. Alívio para o orçamento da família.
No rádio imperava o bolero e o samba canção. Música estrangeira, as canções italianas e francesas. A situação iria mudar com a Jovem Guarda e os Festivais da Record. E com a TV ganhando os lares brasileiros.
Falava-se na decadência do Rádio e na força da imprensa escrita. Muitos jornais tinham duas edições diárias, e os jornalistas estavam cada vez mais valorizados.
Ninguém ia a Miami. Abastados iam a Bariloche, para férias ou lua-de-mel; o sonho era ir a Paris, por motivos românticos ou “gauche”.
Assim como em 1808 D. João XVI trouxe o estado português para o Brasil, a Missão Francesa trouxe sua cultura nos anos 30.
A Aliança Francesa era uma força cultural.
Em casa as opções culturais se expandiram: uma versão espanhola da BARSA ganhou a única estante da casa, junto com uma coleção encadernada das obras de Julio Verne e outra de Alexandre Dumas. Continuou a assinatura da Readers Digest e agora recebíamos todo mês volumes do Círculo do Livro.
Da amizade com Mariella, minha primeira amiga do coração, que morava na minha rua, ficou sua história meio triste (obrigada a casar aos 16 anos) e a ópera, gênero a que fui apresentada e pelo qual sou apaixonada até hoje. Seu pai, italiano, tinha uma variedade imensa de discos de ópera, naturalmente as italianas. Era declaradamente anarquista (eu não tinha a menor ideia do que era isso, devo confessar) e mantinha um mimeógrafo no porão. Soube mais tarde que era do “sindicato”. Dirigia uma escola técnica onde se ensinava datilografia e contabilidade.
Em casa se falava zero de política.
Perguntei à minha mãe o que era anarquista. Mamãe não teve dúvidas: “baderneiros que não acreditam em Deus”.
Ainda assim fui com minha mãe doar minha pulseirinha de ouro, presente da minha madrinha e de fecho quebrado, para a campanha “Ouro para o Progresso do Brasil”, numa urna que estava no hall do prédio dos Diários Associados, onde um dia eu iria trabalhar. E quando veio o Golpe, num mês de março bem frio, lembro que não fomos à escola.
A manchete era “o Governo caiu”, e depois “Intervenção Militar”. Não dei a mínima. Estava imersa na leitura da história de vingança do Conde de Monte Cristo, e fiquei contente por ter aquela súbita folga na rotina.
Meu padrasto, com o Golpe Militar de 1964, perdeu o emprego na Rádio pública, que sofreu intervenção “saneadora”. Começou numa rádio nova, Bandeirantes, um programa noturno. A sede ficava no Morumbi que nessa época era um bosque e longe pra chuchu, para usar uma gíria da época.
Mamãe resolveu trabalhar com uma prima que abrira um ateliê de alta costura. O ateliê foi instalado numa travessa da Augusta e assim meu mundo, meu território físico, ficou delimitado àquele eixo cultural, onde quase tudo aconteceu naquela minha primeira juventude: o primeiro beijo com gosto de hortelã de drops Dulcora; o primeiro assédio de um professor bem mais velho (hoje seria considerado pedófilo); o trauma de ver uma colega ser convidada a sair da escola por ter engravidado; e o convite, aceito, para “trabalhar” (na parte da manhã) na biblioteca da escola. O supervisor observou que eu tinha muito jeito com os livros e os alunos viviam vandalizando obras caras, encadernadas com couro. Em troca, bolsa de estudos integral.
Foi meu primeiro emprego, aos 14 anos, terminando o ginásio.
Então eu trabalhava, estudava e lia às pampas. Por trabalhar na escola podia frequentar a sala dos professores, onde tomei conhecimento de que a barra estava pesando para quem se opunha ao Golpe.
Eram tempos de Castelo Branco, a tal da “Ditadura branda”.
Ganhei de um professor de geografia uma edição cartonada de O Manifesto Comunista e ainda dele um exemplar de Erich From – A arte de Amar.
Ele era muito popular e com suas aulas tomei gosto pela Ecologia. Não tinha esse nome, mas as excursões à Serra da Mar e ao Horto Florestal, descortinaram para mim as primeiras sensações de estar em contato com o mundo natural.
Os estudantes que saíam à rua – para protestar – eram secundaristas. A “baderna” na Maria Antônia entre alunos universitários das Ciências Sociais e os direitistas do Mackenzie não tinha nenhum significado para mim, a não ser o de que a “liberdade” estava em perigo, e que a “agitação” irritava os militares.
A escola estava cheia de professores jovens e descontentes, mas era uma espécie de salada russa: meu professor de literatura discutia Helena de Machado de Assis em sala de aula, e no recreio me presenteava A Náusea, de Sartre. Minha professora de História, a quem devo minha vocação (a reencontrei anos depois, na ECA da USP); ensinava “feudalismo” na sala de aula e nos passava textos mimeografados de Caio Prado.
Em casa, zero de política.
Comecei a frequentar as missas com “violão e guitarra ” na Igreja da Consolação e grupos católicos jovens, onde se discutia aborto, drogas e “compromisso social “. O padre Charbonneau era quase um pop star e até participava de programas na TV.
Eu deixava de ser criança e a juventude me parecia um estado de graça – um carrossel de emoções.
Meu passo decisivo para entender o que estava acontecendo e me envolver de fato com a resistência ao que já chamávamos Ditadura, ocorreu em 1968, e foi mais por paixão do que por convicção: comecei a namorar um boliviano, militante do Partido Comunista.
Entre o Vaticano II e a cartilha socialista, meu coração vacilava: o materialismo me parecia uma aberração.
Aos quinze anos, eu era uma avezinha frágil tentando entender o mundo à minha volta.
Ah, o amor! Este insensato sentimento misturado à política e ao desejo de autoafirmação.
Conto mais amanhã.
… continua no próximo Post.
Samyra Crespo é cientista social, ambientalista e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e coordenou durante 20 anos o estudo “O que os Brasileiros pensam do Meio Ambiente”. Foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace de 2006-2008.
Este texto faz parte da série que estou escrevendo sobre os anos da minha formação e de como me tornei ambientalista nos anos 90.