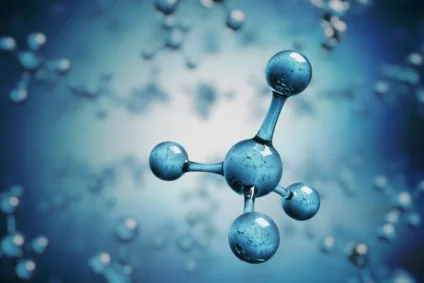Desenvolvimentismo à esquerda e à direita, volver.
No texto anterior deixei uma importante questão pendente – a “consciência crítica “. Sem academicismos, desnecessários aqui, a pergunta é como a adquirimos? É ela possível sem debate livre das Ideias? Sem a experiência concreta, empírica de se viver a diversidade, pluralidade de opinião?
Sem liberdade de cátedra ou de pensamento, o que temos é doutrinação, daí o termo pejorativo para esta prática: tanger o rebanho. Vomitar clichês, frases de efeito, mobilizadoras das paixões mais baixas.
Nos anos 70 em que vivemos, simultaneamente, o “milagre econômico” (o capitalismo de estado), o “Sonho do Brasil Grande – fisicamente, com a construção de Itaipu e a Transamazônica – e o endividamento vergonhoso do País, nestes anos, se tivéssemos que apontar um consenso nacional era o de que todos, sem exceção, acreditávamos que era preciso “desenvolver o País “. Expandir a massa educada e os segmentos de classe média era parte do pacote.
A essa crença que atravessou – e atravessa ainda – toda a América Latina e parte do mundo que sobrou do colonialismo, do imperialismo e do globalismo desigual (Stiglitz), chamamos de “desenvolvimentismo”.
Utopia ou ideologia?
Por ora vou dizer sem medo de errar, éramos todos desenvolvimentistas. O vocabulário da época nos classificava como “Terceiro Mundo”; chamavam-nos subdesenvolvidos. Doía. A contrapartida dessa visão econômica era o “complexo de vira-latas”, que levava por sua vez ao desprezo por tudo o que considerávamos atrasado; ou vestígios do nosso passado escravocrata e colonial. Um xingamento? “República de Bananas”, menção à exportação desses frutos pela América Central, e seu expoente: Cuba. Aquela parte da América era o cocô da mosca no cavalo do bandido. Por isso, Cuba foi tão emblemática quando fez a Revolução.
Hoje, a banana é a soja, é o boi; apenas atualizamos o a commoditie e ampliamos a escala.
Essa falta de orgulho do passado, ou do presente, nos levava a esse mítico “País do futuro”. Para os jovens era um lugar bem confortável, dava esperança, substância aos sacrifícios do presente.
Queríamos ser desenvolvidos. O dilema é que a receita para fazê-lo era distinta entre a esquerda e a direita.
À esquerda, onde nos situávamos, estava Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Gunder Frank contra Rostow (a ideia de que o desenvolvimento se fazia por etapas). Os “Cepalinos”, referência à CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina, com sede no Chile), tinham uma receita: começava por romper os “laços de dependência “. Os alinhados com a London Economic School e com Chicago, outra: era preciso “fazer o bolo crescer antes de dividir”, criar uma “poupança nacional”.
Digamos que não importa qual a cor ou o tamanho da listra, éramos todos “zebras”. Não havia futuro fora do “desenvolvimento”.
Este era um debate que inflamava a juventude fora da universidade ou dos grupos politicamente engajados?
Acertou quem disse um redondo não.
Nos anos 70, debater ou fazer política significava estar no sindicato, num partido político, na Igreja (majoritariamente católicos) ou na universidade. A Ditadura adicionou os quartéis (na verdade, a mais alta hierarquia deles). Os secundaristas eram grupos animados pelas instituições citadas. Elite. Elites dirigentes, se quisermos adotar o conceito de Wright Mills.
Com censor nos jornais, TV e cultura de um modo geral, quase nada sabíamos da tortura, desaparecimento de pessoas, sobre os “guerrilheiros ” (assim chamados todos os que estavam na clandestinidade). Sabíamos dos exilados, “Brasil, ame-o ou deixe-o”.
Sem liberdade de imprensa, opinião ou reunião, íamos todos ao Mappin fazer compras; às lojas de crediário comprar TV ou fazer dívida a perder de vista para comprar a casa própria. TV para ver programas de Silvio Santos e Hebe Camargo; no Rio – Chacrinha. Novelas e os “enlatados” que começaram chegar em toneladas.
A verticalização de são Paulo era vertiginosa; nosso desprezo pelo passado nos fazia derrubar sem dó os casarões, as árvores, as linhas de bonde. A mão de obra famélica e barata dos nordestinos alimentava o boom da construção civil.
Começamos a avançar nos mananciais, nos remanescentes de florestas e a predar o meio ambiente. Rapidamente criamos as enchentes e a poluição. Eu trabalhava na 7 de Abril, nos Diários Associados. Os olhos permanentemente vermelhos e ardendo. Dias havia que respirar era difícil. E daí? São Paulo não podia parar.
Como disse um militar na Conferência de Estocolmo em 1972, sobre meio ambiente, a primeira de cúpula da ONU: efeitos colaterais do desenvolvimento – “Venham nos poluir”. O capital estrangeiro aceitou o convite.
A indústria do consumo, a cultura de massa e a destruição do meio ambiente nos acenou com sorriso e palavras sedutoras. O Brasil embarcou.
Entrei na Universidade. Não era qualquer universidade, mas a melhor do País.
Lá, em vez de ver o futuro, fui apresentada ao passado. E que passado!
… continua no próximo Post.
Samyra Crespo é cientista social, ambientalista e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e coordenou durante 20 anos o estudo “O que os Brasileiros pensam do Meio Ambiente”. Foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace de 2006-2008.
Este texto faz parte da série que estou escrevendo sobre os anos da minha formação e de como me tornei ambientalista nos anos 90.
(#Envolverde)