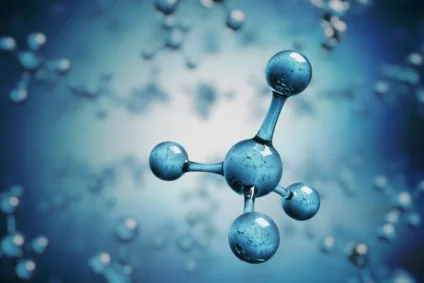Quer uma cidade? Lute por ela!
Começando pelo fim do título desta série de posts, eu escolhi um lado – como sugeria Cazuza, o roqueiro-poeta carioca nos anos 80′: “Ideologia, escolha uma pra viver”.
À palavra ideologia, escolho utopia. Preciso de uma pra viver e abraço hoje com consciência e afeto a utopia ecológica – a da sociedade que vai acordar a tempo, que não vai destruir suas próprias condições de vida, que não há de legar um futuro árido e miserável aos que virão depois de nós.
Ideologia é o ideário de um grupo, uma síntese particular. A utopia é visão, projeto. As ideologias são rivais, concorrentes – aspiram à hegemonia; a utopia resiste porque é construção coletiva, histórica de longa duração, necessária à evolução humana.
Ao escolher um lado, desfiz um casamento, redirecionei minha carreira e não tive medo de me relacionar com novas tribos.
Mas antes de chegar à esta utopia que chamo de ecológica (e não de desenvolvimento sustentável, explico depois), é preciso retroceder a meados dos anos 80 e compreender certos aspectos políticos e sociais que sacudiam o país, e agora o Rio de Janeiro, cidade na qual cheguei para morar com muitos lenços e documentos, num sol de pleno dezembro.
Como adiantei no texto anterior, foi difícil ser residente e não turista na cidade. Sair das boas lembranças hedonistas das “férias ” para cair na real do cotidiano nada idílico da maioria do povo carioca.
O Rio que passei a conhecer nas idas ao subúrbio de Maria da Graça, às favelas em que trabalhei – que hoje chamamos comunidades – e às escaramuças entre brizolistas e comunistas no centro da cidade, na Cinelândia, era muito diferente da “Zona Sul”.
As garotas podiam ser douradas e lindas com shorts e rasteirinhas, mas as praias eram poluídas e a areia imunda. A Lagoa Rodrigo de Freitas fedia e era o quintal de seus moradores. Podia-se pegar hepatite na areia (e houve mesmo surtos da doença em alguns verões) ou bicho geográfico – além de outras doenças, devido a presença de cães disputando com as crianças o espaço. A CEDAE já era uma caixa preta. Os CIEPS eram monumentos fracassados a uma educação integral e integrada, sonhada por Darcy.
Brizola tinha recém redirecionado linhas de ônibus dos subúrbios para as praias da zona sul.
Os pobres e as peles escuras tinham – literalmente – invadido a “sua praia”.
Contudo, a intelectualidade boêmia fazia odes à cidade, à sua beleza sem igual: o Rio como pura paisagem. O Éden ruía a olhos vistos.
A cultura era a do funcionalismo público, herdada do status de Capital, e das dezenas de estatais, além da mãe de todas – a Petrobrás. Também um conjunto invejável de instituições públicas como museus, bibliotecas e universidades, destacando-se a UFRJ e a UERJ. Empregos públicos a lot e serviços. Turismo tímido para o potencial da cidade e para o lugar que ocupava no imaginário de todos nós.
Massa de aposentados e mulheres que não faziam nada – pois ainda era comum encontrar neste período um bando de quase dondocas ou mulheres “do lar”.
O convívio das favelas com os bairros ricos e da classe média sempre promoveu uma ilusão: a da democracia racial. Também fornecia a ilusão de uma dualidade complementar (fonte de babás, porteiros, seguranças, empregados da padaria de nossa preferência; faxineiros de rua para quem damos bom dia!).
Os anos 80′ – também chamados de “a década perdida”, foram especialmente cruéis com a Cidade.
As coisas se mudavam para Brasília, prédios históricos eram abandonados, a inflação mordia o calcanhar de todos e a violência explodiu com assaltos e gangues de meninos aterrorizando as ruas.
Este estado de coisas – a desigualdade brutal (que não ocorria só aqui) fez o jornalista Zuenir Ventura criar o famoso epíteto: Cidade Partida.
Deu origem, também a uma série de reações por parte das elites dirigentes, intelectuais e lideranças populares.
Em todas essas reações, a de lutar pela Cidade do Rio de Janeiro me fiz presente.
Acreditei que éramos capazes de virar o jogo.
Para me dedicar a isto, abandonei a vida acadêmica e mergulhei fundo no mundo das ONGs de desenvolvimento.
Por alguma razão sociológica que não vou explorar aqui, no Rio florescia o que chamávamos de “organizações da sociedade civil” – e três reinavam na cena: FASE, IBASE e ISER. lideranças da sociedade civil como Betinho, Jorge Eduardo Durão e Rubem César Fernandes.
Ali havia um caldeirão de novas pautas, de possibilidades para o ativismo de esquerda. O Rio gritava por socorro. Muitos ouviram e foram à luta.
O pano de fundo era a redemocratização do País.
O aqui e agora era combater a fome, a violência e a desigualdade.
Com o dinheiro vindo de fora, da “ajuda ao desenvolvimento” fomos experimentando, engolindo e cuspindo pílulas de socialismo misturadas ao neoliberalismo que crescia como fungo no calor, na Europa e EUA (de onde vinha a grana).
Munidos de nossas utopias e das melhores intenções mergulhamos no mar sujo e fizemos piscinões.
Mas kdê o nosso sucesso menos de três décadas depois?
O que deu errado? O que ficou pelo caminho? O que não vimos, enquanto seguíamos tão voluntariosos e confiantes?
Amanhã eu volto.
… continua no próximo Post.
Samyra Crespo é cientista social, ambientalista e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e coordenou durante 20 anos o estudo “O que os Brasileiros pensam do Meio Ambiente”. Foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace de 2006-2008.
Este texto faz parte da série que estou escrevendo sobre os anos da minha formação e de como me tornei ambientalista nos anos 90.
(#Envolverde)