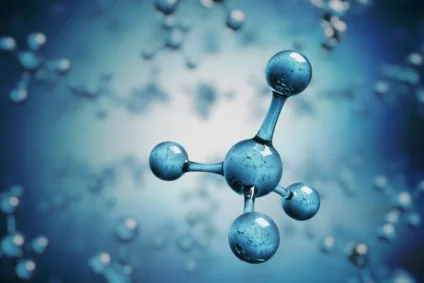Carreira, casamento e a academia.
Para as mulheres da minha geração – nasci em 1952 – casar não era uma opção tampouco ter filhos: você tinha o script: crescia, estudava o básico se fosse pobre; fazia o clássico ou o normal se fosse de classe média; ia à universidade se fosse de famílias mais bem colocadas na escala sociocultural; casava e tinha filhos. Algumas trabalhavam até casar. Poucas trabalhavam depois do casamento e se o faziam era por necessidade, salário insuficiente do marido – o provedor. Mulher não dividia conta com o namorado, não ia a bares com amigas, não saía à noite sozinha.
Tive que adotar o nome do meu marido ao casar e pedir sua autorização para obter um crédito numa loja de departamentos: era 1976. Anos luz nos separam hoje desta realidade.
Feminismo para nós, mesmo nos anos 80′, era um borrão no horizonte. Claro, saímos das revistas de fotonovelas e de Pais & Filhos, para Marie Claire, Cláudia e Vogue. Ali – nas páginas das revistas femininas – a nova liberdade era tomar pílula para não engravidar, ter uma carreira – mas não esquecer de ser sexy e bonita para conquistar um homem. Conquistar um homem era quase uma carreira.
E no terreno da conquista, altamente concorrencial, as outras mulheres eram nossas rivais. Nem amigas nem parceiras.
Os colunistas dos principais periódicos- quase todos homens, Millor et caterva, vociferavam: as feministas eram as mal amadas, as feias, as sapatas de sovaco com pelos. Queimar sutiãs? Era uma coisa ousada, sem dúvida, mas incompreensível para a maioria de nós. Chamar alguém de feminista era um xingamento.
Para piorar, o socialismo (que foi tão progressista nos costumes e na liberdade das mulheres no início da Revolução de 1917) se tornou um mundo de disciplina machista. O feminismo era visto como um movimento divisionista, pois homens e mulheres eram igualmente oprimidos – se pobres ou operários.
Todo este introito para dizer que casar aos vinte e poucos anos (e não mais aos catorze ou dezesseis, na geração da minhas avós) era um roteiro dado.
Casei e tinha emprego, meu marido publicitário ganhava mais – “bancava a casa”. E isso parecia perfeitamente normal.
Pensei em seguir uma carreira acadêmica, ser professora universitária – padrão aceito e até louvável naqueles anos.
Apesar de que entre os amigos de meu marido – todos publicitários, ter mulher intelectual era um problema, não um motivo de orgulho. Intelectual e politizada, então, era quase uma falta de sorte.
Segui o modelito da carreira que escolhi: me graduei, fui direto para a pós-graduação e me doutorei. Fiz tudo isto com filhos, militando e pilotando uma casa de classe média cada vez mais ascendente. Meu marido tornou-se executivo do primeiro escalão e fazer festas, comparecer a eventos era parte da rotina. Consumir também: bons whiskies, passar férias no Club Med, o dia de domingo com amigos que compravam apartamentos de cobertura na Barra. A Barra da Tijuca se tornou o local emblemático dos emergentes. O Rio com cara de São Paulo.
Meu marido insistia para mudarmos para lá e eu resistia. Antecipava catástrofes: “o morro vai descer, essa cidade vai pegar fogo”. O certo é que os meninos eram assaltados a caminho da escola: um tênis, um relógio, a mochila e o trauma de enfrentarem um canivete, um caco de vidro ou arma de fogo mesmo na mão dos “pivetes” (quem não viu o icônico filme do Babenco?). Mas não migrei para a Barra. Sequestros relâmpago, sequestros de verdade, e não me mudei para a Barra.
Eu me entediava com seus amigos yuppies e ele se impacientava com os meus – que chamava de “pseudo-intelectuais”. Logo nossos mundos e aspirações começaram a se distanciar – muito.
Lembro de que os melhores momentos para mim eram aos domingos bem cedo (sempre acordo cedo) quando os meninos e o meu marido ainda dormiam.
Podia me espalhar no sofá e ler O Globo e o Jornal do Brasil. Tomar um café preto bem devagar, os gatos preguiçosamente estirados no tapete, e sol iluminando a sala. Era o céu, aquele silêncio e um tempo só meu.
Rapidamente entendi que podia multiplicar este tempo só meu fora de casa, viajando a trabalho, indo a congressos acadêmicos, permanecendo cada vez menos – física e mentalmente em casa, na vida doméstica.
Os meninos, pré-adolescentes se identificavam cada vez mais com o pai, e isso me agradava de um lado e me liberava de outro. Fiquei bastante surpresa quando escolheram morar comigo, quando finalmente me separei. Eu tinha quarenta anos e ele, o cônjuge, vaticinou: “é a crise da idade”. Tinha certeza que não. Disse que ia me arrepender, não aconteceu.
Meu ex marido, homem decente e meu amigo até hoje, foi sempre uma âncora segura para meus filhos. Aquele tipo de homem que nasceu mais para ser pai do que para marido. Ainda mais marido de mulher como eu – inquieta e desejosa de autonomia.
Livre, leve e solta, mergulhei no trabalho e na vida de divorciada.
Dirigia um departamento de pesquisa em história da ciência no Museu de Astronomia, instituto federal e lutava – numa articulação que envolvia a Fiocruz e a UFRJ, para criar uma Associação Nacional de Pós Graduação em História da Ciência. Articulação esta em que se envolveu Nisia Trindade, atual presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, ex presidente da mesma instituição, e Ildeu Moreira, presidente hoje da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Luta vitoriosa pelo status de uma disciplina que não tinha autonomia da “filosofia da ciência “.
A luta pela modernização do país também ocorria no campo da ciência e da tecnologia.
No Museu eu também estava em 1990, quando um edital do CNPq solicitou que seus institutos se envolvessem com a futura Conferência de Cúpula de Meio Ambiente das Nações Unidas, que seria no Rio de Janeiro, em pouco menos de dois anos.
Vi ali dinheiro e oportunidade para entrar num tema que já vinha me apaixonando. Tive o apoio do diretor da instituição na época, Pedro Wilson Leitão.
Concorri ao recurso, ganhei e comecei o estudo que iria marcar a minha carreira acadêmica, assim como minha fase ambientalista: a pesquisa “O que o Brasileiro pensa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.”
… continua no próximo Post.
Samyra Crespo é cientista social, ambientalista e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e coordenou durante 20 anos o estudo “O que os Brasileiros pensam do Meio Ambiente”. Foi vice-presidente do Conselho do Greenpeace de 2006-2008.
Este texto faz parte da série que estou escrevendo sobre os anos da minha formação e de como me tornei ambientalista nos anos 90.
(#Envolverde)