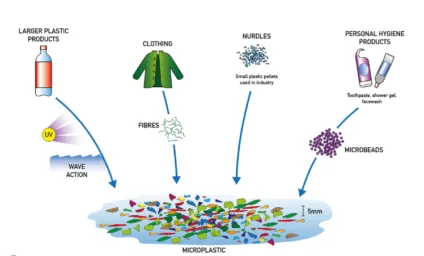Por Amazônia Real –
Por Amazônia Real –
Nos primeiros meses de 2021, a artesã e agricultora Terezinha Ferreira de Souza, do povo Sateré-Mawé, sentiu o alívio de ser vacinada. Agora, no final do ano, ela voltou ao roçado da comunidade e aos poucos recomeça sua produção de artesanato. “Estamos no plantio da banana. O artesanato, um pouquinho. Estou mais na limpeza do bananal. Fica difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assim vamos vivendo e levando a vida”, disse Terezinha à Amazônia Real, nesta semana.
Moradora da comunidade Gavião, onde vivem 30 pessoas, e localizada à margem do rio Tarumã-Açu, afluente do rio Negro, em Manaus, Terezinha quase morreu de Covid-19 em junho de 2020. Após idas e vindas em diversas unidades de saúde de Manaus, onde presenciou pessoas morrendo nos corredores, ela foi internada na ala indígena do Hospital de Combate à Covid Nilton Lins, a custo de muitos tropeços e omissões das autoridades de saúde.
Na entrada, enquanto sufocava por falta de ar, precisou brigar para ser identificada como indígena nos registros médicos. Queriam registrá-la como “parda” e não como Sateré-Mawé. Ficou 14 dias internada, recusou ser intubada, recorreu escondida a medicamentos tradicionais indígenas e sonhou que recebeu auxílio de três pajés durante o tempo em que ficou hospitalizada.
Terezinha alternou momentos de lucidez e prostração durante a internação. Ela conta que na fase final do tratamento, tirou “uma vermezinha preta do nariz” semelhante a uma cobra pequena.
“Uma parenta minha (Moy Sateré) dizia que eu precisava tirar essa coisa da garganta e do nariz. Assim começaria a me limpar. Levantaria devagar. Quando melhorei, é porque tirei a cobra”, conta. Foi durante o sono que Terezinha viveu a experiência de ser tratada por pajés. “Eu vi os três na parede, esmufaçando. O nosso remédio salvou muitos de nós. Valeu para aqueles que creram”, lembra ela.
O tratamento de Terezinha é emblemático porque ela foi a única indígena de contexto urbano de Manaus a ser internada na ala destinada aos povos originários do hospital. Inaugurado pelo governo do Amazonas no início da pandemia, o espaço, desde o início, era exclusivo para os “aldeados”, que é como a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, descreve os indígenas que vivem em aldeias cobertas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei). No Amazonas, são cinco Dseis, um deles em Manaus, responsável por 19 municípíos.
A hospitalização de Terezinha na ala indígena só ocorreu por pressão do marido, Eliomar Martins, que também estava com Covid-19, e de um grupo de familiares e amigos que foi para a frente do hospital fazer uma manifestação, no dia 3 de junho do ano passado. O barulho deu certo, mas o acesso à ala especial do hospital não se repetiu em momento algum para outros indígenas doentes que vivem na capital amazonense, diz Marcivana Paiva, coordenadora da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime).
Terezinha Ferreira de Souza, liderança da comunidade Gavião (Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real).
“O caso da Terezinha é interessante porque foi único. E ela só foi atendida depois de muitas tentativas. Tivemos que ir para rua. Fomos para frente do hospital denunciar a recusa para interná-la. Infelizmente, toda aquela propaganda de que havia uma ala indígena excluiu nós, que vivemos na cidade. Uma ala que dizia ter tratamento diferenciado e não era nada disso. Isso me fez refletir que nem sempre morar ao lado de um hospital lhe garante atendimento”, diz Marcivana Paiva, do povo Sateré-Mawé.
Segundo Marcivana, o governo do Amazonas não deu um tratamento diferenciado no Hospital Nilton Lins, conforme os valores tradicionais dos indígenas e não soube empregar uma política de atenção à saúde adequada. Afirma que faltou mais diálogo e conhecimento. “Me lembro que na entrada tinha uma imagem bonita de um pajé. Ali era a ala de atendimento dos pajés. Mas não funcionou nem um dia. Não havia pajé. E mesmo que tivesse, ali não era ambiente para isso. Fizeram essas ações sem planejar, sem compreender o conhecimento indígena”, diz ela.

No relatório de monitoramento da Covid-19 do governo do Amazonas consta que foram hospitalizados 850 indígenas no estado, de diversas etnias. Em Manaus, foram notificados 438 casos, 68 internações e 24 óbitos. O documento, contudo, não informa se os indígenas hospitalizados são de contexto urbano ou se foram transferidos de seus territórios, tendo em vista que no interior do Amazonas não tem hospitais com leitos de UTI. O relatório também não informa as unidades de saúde que receberam os pacientes indígenas.
Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM) enviou apenas o link para monitoramento e respondeu que a ala indígena do Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins, que funcionou em 2020, tinha 53 leitos, sendo 33 leitos clínicos e 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A ala foi montada pelo Governo do Estado, com o apoio do Governo Federal, para o atendimento exclusivo de indígenas.
Conforme a SES, o hospital foi reaberto em janeiro de 2021 pela “alta demanda de internação durante o momento mais crítico da pandemia de Covid-19 no estado, com 103 leitos – 81 clínicos e 22 de UTIs, e realizou mais de 730 atendimentos, incluindo o tratamento de indígenas” e que “desde agosto de 2021, devido “a baixa e persistente ocupação de leitos do hospital”, a unidade não recebeu mais pacientes.
Procuradas para dar informações dos assuntos abordados nesta reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) e a Sesai não responderam até a publicação dessa reportagem.
Tão logo começou a pandemia, mesmo sem um procotolo efetivado, a Sesai decidiu que indígenas de contexto urbano não teriam tratamento diferenciado. O tratamento seria pelo SUS, sem distinção de etnia. A partir de então, lideranças indígenas iniciaram uma mobilização para que os indígenas da capital também fossem incluídos no planejamento da Sesai. Apesar de grande visibilidade e repercussão, os atos não conseguiram ter êxito no âmbito federal, apenas ações pontuais e localizadas.
Faltam dados sobre a pandemia

Em quase dois anos de pandemia da Covid-19, o impacto da doença na população indígena de Manaus continua sem reconhecimento das autoridades públicas de saúde. Sem contagem diferenciada, o sistema de dados classifica erroneamente indígenas da zona urbana e áreas ribeirinhas de Manaus denominando-os de pardos, caso o paciente não se oponha.
Na cidade que foi por duas vezes o epicentro da pandemia, os mais de 35 mil indígena não aparecem em levantamentos oficiais. Marcivana Paiva afirma que as instituições de saúde da capital amazonense e do governo não têm dados sobre casos, prevalência, óbitos ou qualquer outro tipo de informações relacionados à pandemia entre os indígenas de contexto urbano. Por isso, não é possível rastrear a doença junto a esse grupo.
O boletim epidemiológico do Dsei Manaus notificou 85 casos de Covid-19 desde o início da pandemia em 16 comunidades localizadas na zona rural da capital amazonense. Não há registro de óbitos. Trata-se de um número não representativo do universo de comunidades localizadas na capital. Segundo a Copime, são cerca de 70 comunidades indígenas localizadas em Manaus, abrangendo as zonas rural e urbana.
O coordenador do Dsei Manaus, Januário Carneiro, disse à Amazônia Real que o órgão realiza cobertura de saúde em 11 aldeias na região do rio Cuieiras e cinco na região do rio Tarumã-Açu (uma delas é Gavião). Elas integram o Polo Nossa Senhora da Saúde, todos em Manaus. As aldeias não estão em terra demarcada, mas recebem atendimento da saúde indígena por estarem em áreas de reserva de desenvolvimento sustentável.
No total, o Dsei Manaus atende comunidades de 16 polos-base de 19 municípios do Amazonas. As comunidades indígenas que estão na área do Tupé, onde há famílias que vivem de turismo, não recebem assistência do Dsei. Januário não soube dizer se outros indígenas de contexto urbano e zona rural de Manaus, além de Terezinha Ferreira, foram hospitalizados no Hospital Nilton Lins. Segundo o coordenador, quando ela foi hospitalizada, o caso ocorreu durante outra gestão do Dsei Manaus.
A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), que faz levantamento periódico das notificações da doença, não tem dados específicos de Manaus. No Amazonas, segundo o levantamento mais recente (10 de novembro) da Coiab, há 10.095 casos de Covid-19 entre indígenas, com 330 mortes. Em toda a Amazônia, são 41.864 casos e 1.024 óbitos.
Segundo Marcivana Paiva, os números não refletem a realidade porque há muitas subnotificações e resultados falso-positivos de testes rápidos. O professor da comunidade Gavião, Arnaldo Michiles, por exemplo, disse que no primeiro exame feito no local, quando os sintomas da doença apareceram, apenas um resultado deu positivo. Os demais deram negativo no teste rápido, inclusive o dele.
Apesar da estimativa subestimada para Manaus, Marcivana Paiva afirma que 90% dos indígenas que vivem na capital amazonense (tanto na zona urbana quanto nas comunidades ribeirinhas) foram infectados pelo novo coronavírus.
Esta taxa não-oficial é baseada em uma contagem da Copime, por meio do contato direto com as numerosas famílias indígenas que moram na capital amazonense. No auge da pandemia, a comunicação nos grupos de Whatsapp era intenso e aflitivo, lembra ela, com relatos diários e frequentes de novos casos nas famílias indígenas.
Para Marcivana, a crise sanitária serviu para mostrar tudo que estava “escondido e maquiado” e “mostrou para o mundo ver como os indígenas vivem”. “A pandemia escancarou uma coisa que era muito velha, muito velha mesmo. As subnotificações sempre existiram, assim como a falta de acesso à educação, ao saneamento básico, a falta de atenção médica”, diz ela.
A exclusão dos indígenas de contexto urbano foi repetida no Plano Nacional de Imunização. A Copime entrou com um pedido no Ministério Público Federal para que todos os indígenas fossem vacinados, mas quando a Justiça Federal do Amazonas deferiu, em junho deste ano, a campanha já havia chegado a praticamente toda a população da cidade.
“Foi uma grande vitória a decisão da juíza Jaiza Fraxe, mas naquele momento já estavam vacinando as faixa etárias a partir de 18 anos. Então, o pedido da liminar perdeu o sentido. Ainda assim, a decisão judicial traz argumentos que fortalecem a nossa luta futura”, conta Marcivana.
As comunidades indígenas

(Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real)
Na contagem atualizada, feita durante a pandemia, a Copime identificou 70 comunidades localizadas em Manaus, divididas entre aldeias, núcleos familiares e associações. “Isso significa que o número de indígenas já passou de 35 mil pessoas”, diz ela.
Até então, o número divulgado pela Copime era de 54 comunidades. A maior parte delas pertence à zona urbana. Na zona rural, as comunidades estão localizadas à margem de afluentes do rio Negro, como rio Tarumã-Açu e Cuieiras, e no próprio Baixo Rio Negro. Nelas, vivem famílias de diferentes povos (Dessana, Tuyuka, Baré, Tikuna, Sateré-Mawé, Karapana, etc), que se deslocaram de seus territórios tradicionais no Amazonas e reconstruíram suas vidas em outras áreas.
Gavião é uma comunidade indígena que não tem regularização fundiária. Há anos os moradores lutam para que o local seja reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ou pela Funai (Fundação Nacional do Índio). Tem apenas 73 hectares, em uma área onde a água do rio Tarumã está poluída. A comunidade não tem água potável e uma das maiores lutas é ter recurso para construir um poço. “Com a cheia, os olhos d’água ficam todos debaixo (soterrados). Não dá para usar”, diz o cacique Eliomar Martins.
Terezinha é filha de Zebina e neta de Tereza Ferreira de Souza, grande liderança indígena originária da Terra Indígena Andirá Marau (localizada no Baixo rio Amazonas). Tereza é mãe de mulheres que seguiram seu legado nos anos seguintes. Uma delas foi Zenilda Sateré-Mawé; a outra, foi a pajé, cacica e professora Baku (de nome em português Zelinda), fundadora da aldeia Sahu-Apé, localizada na Vila de Ariaú, em Iranduba. Ambas são falecidas. Tereza morreu em 2013, aos 98 anos.
Em 2005, a família de Terezinha passou a morar no local, quando Tereza ainda estava viva. “Minha avó criou essa comunidade na década de 1970. Ela se chamava Mawé. Mas devido ao nosso clã, mudamos para Gavião”, diz.
“Passamos fome”
A experiência de Terezinha, sua família e as pessoas que vivem em Gavião é representativa das comunidades indígenas de Manaus. Segundo Marcivana, desde o primeiro momento a maior preocupação das lideranças era a disseminação generalizada da doença.
Os caciques e as lideranças instalaram barreiras e se recolheram. Mas ao se isolarem, ficaram sem acesso aos seus principais meios de sustento (artesanato e turismo) e entraram na tristeza da doença, no impacto do trauma e na crise financeira.
“Na aldeia, ainda se pode pescar ou caçar, mas na cidade, se não tiver dinheiro, não tem nada. E em muitas comunidades, a principal atividade econômica é o artesanato e as apresentações culturais nas feiras. E essas duas atividades foram drasticamente atingidas. Passamos fome. Só não morremos por conta das organizações indígenas e da rede de solidariedade que foi formada por comunidades indígenas, indigenistas e nossos aliados”, lembra ela. Foi essa rede, diz Marcivana, que tomou a iniciativa de distribuir equipamentos de proteção, como máscaras e álcool em gel, e cestas básicas.
Junto da fome, vieram as sequelas físicas e espirituais. Muitos indígenas não sabiam como reagir à doença e temeram ser estigmatizados. “Quando começou a doença no ano passado, muitos parentes passavam mensagem no privado (das redes sociais) dizendo: ‘estou com Covid, mas não divulga’. Ou seja, a doença estava carregada de algo muito forte, do medo do preconceito. Por outro lado, teve um fato interessante da pandemia que foi o uso da nossa medicina tradicional”, lembra.
“Os parentes pediam nas cestas básicas oferecidas pelos apoiadores que não colocassem apenas óleo e arroz. Eles queriam também limão, alho, ervas. Queriam algo diferenciado. O remédio caseiro ajudou muito”, conta.
A própria Marcivana Paiva não escapou da Covid-19. Ela foi infectada em maio de 2020. Até hoje, conta, não recuperou por completo o olfato. “As sequelas que grande parte dos indígenas sofreu desencadearam outras doenças. Hoje, tem parentes com diabetes, pressão alta, arritmia cardíaca, cansaço. Doenças que eles não tinham antes”, afirma.
Cloroquina e falta de máscara
Na comunidade Gavião, com exceção das crianças, todas as pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus ainda nos primeiros meses da pandemia. A maioria não precisou ser internada, mas bastava ter sintomas para serem receitados com azitromicina, ivermectina e cloroquina por profissionais de saúde do Dsei que estavam no local.
“Vieram aqui e deixaram para todo mundo. Também tomei a cloroquina no hospital”, diz Arnaldo Michiles, do povo Sateré-Mawé, professor da comunidade. Ainda assim, Arnaldo preferiu recorrer ao remédio natural extraído das plantas que ele cultiva. “Comecei logo a fazer remédio. De garrafada mesmo. Quem mais tomou foi eu. E quem mais precisou foi eu.”
Os esforços para conter a infecção tiveram êxito apenas no início. Mas as condições da comunidade não conseguiram deter o contágio por muito tempo: os adultos precisavam ir à cidade, trabalhar, visitar parentes ou fazer compras, e os profissionais de saúde ainda não estavam preparados para atender com a devida proteção os indígenas. Muitos deles, diz Terezinha, não usavam máscaras.
“Quando disseram que chegava uma doença que não tem cura, todos entraram em desespero aqui. Aos que voltavam de fora (Manaus), eu falava para tomarem banho na beira do rio e lavassem a roupa ali mesmo. Por um período, deu certo. Mas em abril e maio começou a crescer em Manaus e no interior. Os que voltavam de Manaus, estavam infectados. Os que estavam na comunidade também pegaram do pessoal do Dsei, que estavam todos doentes. Depois, todos se contaminaram”, lembra ela.
Com três dias de “uma tosse horrível”, dor no corpo e falta de ar, Terezinha foi levada pelo marido em uma pequena voadeira, no início da noite, para uma saga dramática em busca de internação. Hoje, ela ainda sofre com sequelas nos pulmões.
“Minha nora pegou e ficou isolada, mesmo sem sintomas. O professor estava com três dias de febre, dor nas costas, com bolha no corpo. Naquele momento, os técnicos do Dsei ainda não sabiam como lidar com a pandemia. Lembro que quando falamos para uma técnica em enfermagem que o professor estava com Covid ela se assustou e colocou a máscara”, diz.
Antes de ser internada, Terezinha tomou um xarope feito de casca de andiroba com jatobá. Complementou com chá de mangarataia com limão. No hospital, tomou mel de abelha que ela misturou com andiroba e copaíba. “Teve uma vez que uma técnica em enfermagem perguntou discretamente: ‘A senhora não trouxe nenhum remédio caseiro? Se trouxe, tome’. A gente fica nas mãos dos médicos, mas só Tupana (Deus) para nos curar.”
Surpreso com a chegada da pandemia, o professor Arnaldo Michiles se preocupou com os pais, que tinham vindo da terra indígena, e passaram um período com ele. “Eu trouxe os dois para conhecer a nossa aldeia. Aí que apareceu a doença. Fiquei preocupado porque eles eram hipertensos, idosos. Teve um dia em que fiquei com dor de cabeça, no corpo. Depois, toda a minha família estava com sintomas. Papai, mamãe, minha esposa, irmão. Só os dois curumins que não estavam. Os testes deram negativo, mas todos os sintomas eram de Covid-19”, conta.
Assis Michiles, pai de Arnaldo, de 86 anos, passou incólume à doença quando estava na comunidade Gavião, mas ao retornar para sua aldeia, na comunidade de Uairurapá, no município de Parintins, foi infectado e morreu. “Tive muito cuidado quando eles estavam aqui. Mas quando voltou, pegou a doença. Ele foi intubado, mas não resistiu.
O cacique Eliomar Martins afirma que a comunidade passou por muitas dificuldades e precisou de ajuda para ter o que comer. Como todos ficaram doentes, não tinham forças para ir para o roçado, carregar peso ou tirar madeira. Como o auge da pandemia ocorreu no período chuvoso, o rio estava cheio, época ruim para pescaria.
“Foi muito difícil. A Funai deu uma cesta básica em 2020 e esse ano deu duas. Mas quem estendeu a mão foi a Copime. Agora, estamos retornando aos trabalhos no roçado”, conta.
Comunidade indígena Gavião do povo Sateré-Mawé, localizada no Tarumã-Açú
(Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real)
#Envolverde

 Por Amazônia Real –
Por Amazônia Real –