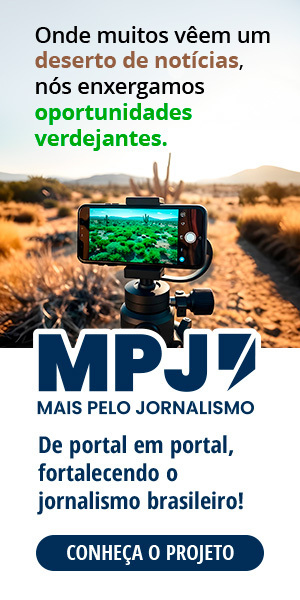A lei que seca o Brasil… e ameaça as águas da América Latina
𝗩𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗲𝘀 – Ao enfraquecer o licenciamento ambiental, o Brasil entrega suas águas ao descontrole e ameaça a segurança hídrica de toda a América Latina. O PL da Devastação não seca só rios, seca direitos, territórios e o futuro do continente. .

por Vitor Hugo Moraes –

Na zona rural de Balsas, no Maranhão, a água do poço secou pela primeira vez em mais de 40 anos. Dona Raimunda, geraizeira e memória viva da comunidade, aponta onde antes jorrava uma nascente que compunha a cabeceira do Rio Balsas e abastecia sua casa e as roças ao redor. Hoje, onde havia mata, há um pasto ralo e um barranco de terra seca. “Quando tiraram a mata e vieram com as máquinas, a água foi embora junto”, diz. Longe de ser uma exceção, o caso de Dona Raimunda é o recorte de um problema mais amplo e o prenúncio do que pode se repetir em mais comunidades do Brasil e, por extensão, de toda a América Latina.
Esse risco está no centro do Projeto de Lei 2.159/2021 — o PL da Devastação — que avança no Congresso sob o pretexto de modernizar o licenciamento ambiental. Entre os pontos mais críticos está a proposta de permitir a autodeclaração como requisito para autorizar atividades potencialmente degradantes, dispensando estudos técnicos, análise de impacto e controle estatal. É como permitir que o próprio empreendedor conduza o julgamento sobre sua atividade, com sentença já prenunciada: menos controle e mais impunidade.
Além dos riscos que têm sido amplamente debatidos, o projeto atinge diretamente os recursos hídricos do país, mas não somente. Ele desmonta proteções essenciais para nascentes, aquíferos e bacias hidrográficas que vão muito além do território nacional. Rios como o Amazonas, o Paraguai e o Paraná cruzam fronteiras, alimentam ecossistemas em vários países e sustentam comunidades inteiras. O Aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo, depende da proteção dos biomas brasileiros para continuar existindo. O que se aprova em Brasília, escorre para Assunção, Buenos Aires e Montevidéu.
De acordo com o MapBiomas , o Brasil perdeu mais de 30% da sua superfície de água desde 1991. Só em 2023, foram cerca de 17 mil infrações registradas, muitas ligadas à destruição de áreas úmidas e à contaminação de corpos d’água. A Agência Nacional de Águas (ANA) alerta que sem a proteção das zonas prioritárias, podemos perder 40% da nossa disponibilidade hídrica até 2040, além do agravamento de secas e inundações. A água não respeita fronteiras políticas, e o colapso em um país repercute nos demais.
Na América Latina, os sinais de crise hídrica se acumulam. O Gran Chaco sofre com desertificação acelerada; o Chile enfrenta uma “megasseca” que já alterou sua matriz energética; a Argentina vê rios recuarem sob efeito combinado do desmatamento amazônico e da intensificação do uso do solo. A perda da Amazônia reduz os “rios voadores”, correntes de umidade que levam chuva a países como Bolívia, Peru e Uruguai. A fragmentação da governança da água na América do Sul — somada à aprovação de leis como o PL 2.159/2021 — representa uma ameaça sistêmica à integridade hídrica da região..
A água é parte da geopolítica latino-americana. Proteger rios e aquíferos compartilhados exige coordenação entre países. O PL rompe com esse princípio de soberania hídrica coletiva, desonrando compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção das Nações Unidas sobre Cursos de Água Internacionais (1997), que proíbe causar dano significativo a países vizinhos, e no Acordo de Escazú , que assegura o direito à informação e participação nas decisões ambientais.
Nesse cenário, a plataforma JusAmazônia , desenvolvida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), oferece dados relevantes. Com mais de 11 mil ações monitoradas na Amazônia Legal, cerca de 30% tratam de danos diretos aos recursos hídricos da região. Os números mostram como a degradação das águas já sobrecarrega o sistema de justiça e revelam a fragilidade das respostas institucionais. Com a aprovação do PL, esses conflitos tendem a se agravar. Se a judicialização já é alta, o enfraquecimento do licenciamento ambiental tende a ampliar ainda mais os vazios de responsabilização e a sobrecarga das vias judiciais.
Os impactos do PL não são distribuídos igualmente, mas recaem mais fortemente sobre as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas. Em Mariana, por exemplo, 84,5% das vítimas do desastre da barragem eram negras. Em Brumadinho, 58,8%. Enquanto comunidades passam semanas sem água, grandes empreendimentos continuam operando com abundância. Ao retirar os instrumentos de controle e responsabilização, o PL reforça o racismo ambiental e a injustiça climática como políticas de Estado.
Da mesma forma – embora em diferente medida – , o setor produtivo também está ameaçado. A escassez de água afeta agricultura, indústria e turismo. Estimativas do Plano Nacional de Adaptação e Mudança do Clima indicam que a produtividade agrícola pode cair significativamente em razão das mudanças climáticas e escassez hídrica. O agronegócio, que apoia a desregulamentação, também é potencial vítima do PL.
Um contrassenso importante é que a tramitação do PL ocorre às vésperas da COP 30, que será sediada em Belém, no coração da Amazônia. Que autoridade terá o Brasil para liderar debates sobre justiça climática e transição ecológica se, internamente, avança no desmonte de seus próprios mecanismos de proteção ambiental? Como cobrar compromissos internacionais se, internamente, se desfaz dos mecanismos básicos de controle ambiental?
Não se pode perder de vista que essa contradição tem alcance continental, muito além de interesses privados ou locais. Ao desmontar seu sistema de licenciamento, o Brasil desonra tratados e compromissos regionais, como o Acordo de Escazú, a Convenção da ONU sobre Cursos de Água Internacionais (1997) e a Convenção 169 da OIT. O PL da Devastação não é uma mera mudança administrativa. É um marco de retrocesso civilizatório. Compromete a saúde pública, a soberania alimentar, o equilíbrio climático e o direito humano à água. Fragiliza direitos fundamentais, e transforma o bem comum em ativo especulativo. Legislar contra as águas do Brasil é legislar contra o futuro da América Latina.
Enquanto a sociedade civil ambientalista se articula em defesa das águas e dos direitos coletivos, setores econômicos no Congresso tentam aprovar o PL com celeridade e pouco debate público. A fiscalização ambiental é enfraquecida, os licenciamentos viram mera formalidade, e o país entrega seu futuro hídrico a interesses privados e imediatistas. Ao optar pela desregulação, o Estado abdica de seu papel de garantidor do bem comum e se transforma em facilitador de (mais) degradação.
Dona Raimunda hoje caminha mais longe para buscar água, carregando baldes e a memória de um tempo em que bastava abrir a torneira do quintal. Sua história, invisibilizada nos debates do Congresso Nacional, antecipa os potenciais danos aos campesinos paraguaios, comunidades indígenas do Chaco, pescadores do Delta do Paraná. Todos sentem a escassez chegar como uma sentença silenciosa, escrita longe de suas realidades. Enfrentar o PL da devastação é defender as águas do Brasil e, com elas, o futuro hídrico de todo o continente. Se não defendermos as águas agora, seremos todos, em breve, um pouco como Dona Raimunda, tentando extrair vida de uma terra exaurida, abandonados pelo Estado e esquecidos pela lei.
Mestre e bacharel em Direito (UFMA), com foco em políticas públicas, sistema de justiça e defesa dos direitos humanos e socioambientais. É pesquisador e consultor com experiências em organizações nacionais e internacionais, órgãos governamentais, advocacy, educação popular, gestão de projetos, liderança de equipes e controle social nas áreas de justiça socioambiental e defesa de Direitos Humanos.