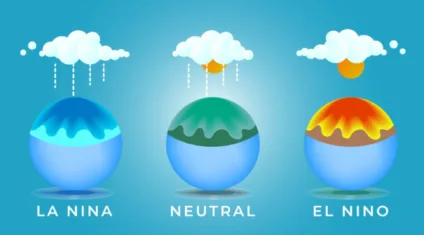Ignacy Sachs é uma personalidade singular no panorama das ciências sociais no mundo e no Brasil. Acima de tudo porque reza pela cartilha dos que consideram a economia política uma disciplina que analisa a evolução e os fatos econômicos, relacionando-os com outras áreas das ciências humanas e no plano mais geral da cultura. Sua trajetória o levou a um conhecimento direto do Terceiro Mundo, especialmente porque passou muitos anos imerso na vida de países como o Brasil e a Índia. Seu conhecimento aprofundado do quadro mundial decorre ainda de outros fatos. Em primeiro lugar, ter vivido a realidade de uma nação que, durante quase meio século, tentou, sem êxito, abrir caminhos para construir uma sociedade socialista, exatamente seu país natal, a Polônia. Em segundo lugar, porque, nas últimas décadas, Ignacy Sachs colocou-se no centro de um observatório privilegiado do cenário internacional, na qualidade de professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris.
No dia 9 de junho, durante duas horas o entrevistamos, recolhendo suas valiosas lições e experiências, porque duas características destacam esse famoso scholar: ele acompanha há muitos anos o que sucede no Brasil, inclusive percorrendo o interior de nosso país, e sempre procura “soluções positivas” para os problemas. Assim, nunca foi e nunca será o magister que se limita a afirmações generalizadas e abstratas sobre as questões.
Em resumo, essa foi a sua entrevista à Estudos Avançados.
* * *
Estudos Avançados – O termo desenvolvimento foi e continua sendo essencial na sua reflexão social, econômica e ambiental. Como esse tema se formou ao longo da sua trajetória intelectual?
Ignacy Sachs – A partir de um acidente biográfico. Cheguei ao Brasil no dia 6 de janeiro de 1941, pelo último navio português que aportou ao Rio de Janeiro, como refugiado de guerra. Então, descobri o Brasil com um espelho da Polônia da minha infância. Naturalmente, então não raciocinava daquela maneira, mas é evidente que alguém que se interessasse pelo Brasil na década de 1940 não podia deixar de pensar no que hoje chamamos de desenvolvimento, de tanto ouvir isso.
Fiquei no Brasil durante catorze anos, até 1954. Fiz o curso de Economia na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, hoje Cândido Mendes. Ao mesmo tempo, trabalhava na Embaixada da Polônia, nos serviços culturais, e me preparava para voltar à Polônia. Completei minha formação no Brasil em cursos da SBPC. Tive o grande prazer e o privilégio de ter Giorgio Mortara como professor de Estatística. Fui orientado por correspondência por Oskar Lange – um dos grandes economistas poloneses e que, na época, era reitor da Escola de Planejamento em Varsóvia. Como o país necessitava de estatísticos matemáticos, especializei-me nessa disciplina. Mas meu trabalho cotidiano, vivido no Rio, me fez imergir na problemática do desenvolvimento.
Meu projeto intelectual, pessoal, se formou claramente ao voltar à Polônia – queria trabalhar que dissesse respeito ao Brasil. Fui muito bem recebido no Instituto das Relações Internacionais, em 1954. Mas me foi dito que a Polônia era um país pobre demais para pagar um salário de jovem pesquisador dedicado ao estudo de um só país. Assim, tornei-me um dos primeiros pesquisadores na Polônia a trabalhar com o tema do desenvolvimento e do subdesenvolvimento.
Portanto, o que foi, numa primeira fase, uma imersão na problemática por razões pessoais, passou a ser minha razão de ser profissional. Um dos trabalhos iniciais que me foi encomendado foi acompanhar a primeira Conferência de Solidariedade Afro-asiática, em Bandung. Em 1955, fiz a edição de um volume de documentos dessa conferência. Logo depois foi anunciada a visita de Jawaharlal Nehru à Polônia, primeiro-ministro da Índia. Trabalhei na tradução da Constituição da Índia e, na ocasião, fiz várias resenhas de livros sobre esse país, a começar pela Descoberta da Índia, de autoria desse grande estadista, e um livro de entrevistas realizadas por um jornalista francês de origem húngara, Tibor Mende (Conversation avec Nehru).
Voltei à Polônia com oito caixotes de documentação para continuar a trabalhar sobre o Brasil. Em seguida, escrevi uma brochura sobre como viviam os camponeses na América Latina e, com um colega, logo depois, lancei um livrinho que se chamava No país das plantações de café. Esses livros, todavia, eram exercícios encomendados e sem importância.
Era para mim óbvio que meu doutorado devesse girar sobre problemas do desenvolvimento e, em vez de fazer uma monografia sobre o Brasil, comecei a trabalhar sobre o papel do Estado no desenvolvimento, muito influenciado pelo debate que, naquele momento, ocorria no Partido Comunista Italiano, que contestava as teses simplórias do capitalismo monopolista de Estado e tentava mostrar que o papel do Estado, mesmo no capitalismo, podia variar, dependendo das políticas seguidas.
Na mesma época, havia um outro debate que não era de economistas e sim de historiadores, mas muito importante para os economistas: sobre a passagem do feudalismo para o capitalismo. Desde aquele tempo comecei, sem me dar conta, a “trair” a economia. Por quê? Porque quem diz desenvolvimento diz que existe a necessidade de se liberar do reducionismo economicista.
A estada na Índia
Em 1956 ocorreram grandes transformações políticas. A Polônia apareceu como um dos países candidatos a construir um socialismo com rosto humano. Foi para nós todos uma grande mudança. Nessa situação, o diretor do instituto com quem eu trabalhava (porque eu fazia parte do que chamávamos de “bombeiros”, pois cada vez que havia necessidade de buscar uma documentação sobre um tema urgente, apareciam duas ou três pessoas que eram chamadas porque tinham um certo conhecimento de línguas), foi nomeado embaixador da Polônia na Índia. Ele se propôs a me levar com ele, como segundo secretário na Embaixada, a fim de cuidar de assuntos relacionados com o intercâmbio científico entre a Polônia e a Índia.
Coloquei três condições. Primeiro, que não iria entrar na carreira diplomática; segundo, que isso não deveria durar mais de três anos; e terceiro, que permitiria minha inscrição para o doutorado na Delhi School of Economics. O que eu já tinha lido, da literatura sobre desenvolvimento, era o suficiente para saber que a Delhi School of Economics era um dos lugares onde se elaborava o pensamento endógeno indiano sobre o desenvolvimento. As três condições foram aceitas. Em 1957, seguimos – eu, minha esposa e meus filhos – para Delhi, onde passamos três anos. Saímos de lá tendo completado, ambos, nossos doutorados na Universidade de Delhi. Ela, em literatura e eu com uma tese sobre os modelos do setor público nos países subdesenvolvidos, que foi publicada na Índia e republicada no Brasil pela Editora Vozes, numa edição da qual não tive conhecimento, com o título mudado para Capitalismo de Estado e desenvolvimento.
A partir daí minha trajetória ficou absolutamente clara. Como já disse, descobri, ainda sem nenhuma bagagem teórica, o Brasil no espelho da Polônia da minha infância. A minha ida à Índia já era um passo consciente. Munido do espelho brasileiro, parti para a descoberta da Índia. Esse processo foi de uma riqueza intelectual extraordinária. Isso explica como o desenvolvimento entrou na minha vida pessoal e como estudos comparativos pluridisciplinares de desenvolvimento passaram a ser o eixo da minha reflexão. Olhando para trás, posso dizer que deram unidade ao que realizei no decorrer desse meio século.
Estudos Avançados – A estada na Índia influenciou sua concepção de desenvolvimento? Em que sentido?
Ignacy Sachs – É difícil sobrestimar a importância dessa estada e sobretudo a importância de que ela se seguiu aos catorze anos no Brasil. Primeiro, porque a comparação se impunha de manhã à noite, no cotidiano, nas formas, no modo de vida etc. Segundo, porque com o estatuto de alguém que tratava de assuntos de cooperação científica na Embaixada e, ao mesmo tempo, era doutorando na Universidade, onde fui muito bem recebido, desliguei-me totalmente da vida diplomática. Funcionamos, aliás, ambos, eu e minha esposa, no meio de jovens pesquisadores e intelectuais indianos que passaram, ou estavam por passar, pelas grandes universidades inglesas. Foi naquela época que conhecemos Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia. Ele é bem mais jovem do que eu, mas já lecionava na Delhi School of Economics, um verdadeiro gênio, o professor mais jovem na história das universidades indianas. Somente depois é que fez o doutorado em Cambridge.
Realizei contatos extremamente ricos naquele país, embora seja muito difícil entrar em sua cultura. No começo, pensamos que faríamos isso com um bom método que aprendemos na França. Começamos por estudar sânscrito e hindi, mas depois de três meses entendemos que, ou iríamos virar especialistas em cultura indiana (porque o investimento é enorme), ou teríamos que nos contentar com aquilo que se lê em inglês, que continua a ser a língua da universidade na Índia. Mas o contato com os intelectuais indianos, com aquela mistura de uma educação de tipo britânico com a bagagem da cultura tradicional, é muito enriquecedor.
Aqui introduziria mais um fator, a importância que teve na minha vida o contato com o pensamento de Gandhi. Isso começou por um acidente de história, outra vez. Gandhi foi assassinado em 1948. Na época, eu vivia no Rio de Janeiro, lendo filósofos orientais, porque tinha que esperar um ano para ingressar na faculdade a fim de homologar meu baccalauréat, do Liceu Pasteur no Colégio Pedro II. Trabalhava com o professor Hignette, que ensinava filosofia nesse Liceu. Esse tomista me fez sofrer muito no baccalauréat. Conhecendo minhas conexões com a esquerda, na argüição oral de filosofia, onde apresentei como matéria preferencial os filósofos pré-socráticos, ele formulou uma pergunta sobre Heródoto como filósofo do imobilismo. Briguei durante 45 minutos, mas o resultado foi uma proposta dele de aprofundar, sob a sua direção, um tema que não era exatamente o mais pertinente para o estudo do Brasil, ou seja Pascal lecteur de Montaigne. Estava trabalhando nos serviços culturais da Legação da Polônia, estudando Pascal nas horas vagas e vivia maravilhado com os filósofos orientais.
Numa tarde, as rádios anunciaram o assassinato de Gandhi. Entrei na primeira cabine telefônica e telefonei para o jornal Correio da Manhã, a fim de perguntar se aceitariam um artigo meu sobre Gandhi. Disseram: “se você trouxer até às 9h da noite, tudo bem”. Foi o primeiro artigo que publiquei na minha vida, no Correio da Manhã. Chamava-se “O nosso santo de lá”.
Estudos Avançados – Professor, do ponto de vista político, não há dúvida que a pregação de Gandhi teve como conseqüência a Independência da Índia. Do ponto de vista econômico, ele defendia determinadas teses voltadas para sabotar o império britânico, mas também refletia uma volta atrás na evolução econômica. O senhor não acha, porém, que, do ponto de vista da economia, Gandhi continua tendo razão em diversas de suas teses?
Ignacy Sachs – Essa pergunta é muito pertinente. Ao chegar à Índia, dei-me conta de que existia um círculo razoavelmente extenso de gandhianos que tinham a mesma relação com o pensamento de Gandhi como os marxistas dogmáticos em relação a Marx. Ou seja, que ficavam fazendo exegese dos textos. As obras completas de Gandhi estão reunidas em 110 ou 120 volumes, porque ele escrevia diariamente dois artigos de jornal. Encontram-se na obra de Gandhi opiniões sobre tudo, inclusive teses que contrariavam pontos de vista anteriormente explicitados por ele mesmo. Pode-se, então, fazer uma leitura da obra do Mahatma como um dos grandes pensadores progressistas da história da humanidade e também pode-se ridicularizá-lo pinçando alguns artigos. Ele pedia o boicote dos produtos e do estilo de vida britânicos, mas escreveu que a escova de dentes é supérflua porque se pode limpar os dentes com um raminho de árvore.
Contudo, não havia na Índia um só discurso político que não se referisse a Gandhi da maneira mais respeitosa, adicionando ao seu nome o sufixo ji, (Gandhiji). Havia, pois uma analogia com a maneira como eram citados na Europa Oriental os clássicos do marxismo, numa veneração puramente formal, verbal. De outro lado, encontrei três scholars indianos, com doutorados ocidentais, que estavam fazendo trabalhos sobre Gandhi. Estabeleci com eles um excelente contato. Interessei-me muito e pensei até em mudar o tema do meu doutorado para estudar o pensamento econômico de Gandhi. Mas houve um empecilho, porque tinha meus afazeres profissionais e, na época, as obras completas de Gandhi não estavam reunidas. Assim, trabalhar comesse tema teria demandado um enorme esforço para encontrar os textos. Para isso eu não tinha absolutamente condições, porque escrevia meu doutorado nas noites e aos domingos. Nunca deixei, porém, de acompanhar as teses de Gandhi.
Gandhi e a economia
Posso dizer o seguinte: a independência da Índia e a maneira como ela aconteceu, assim como a influência de Gandhi, deveriam ser objeto de estudo em todas escolas do mundo, porque é um caso sem precedentes. Isto é, como um país colonizado consegue se livrar da dominação do maior império colonial do mundo quase sem derramamento de sangue? A mensagem é absolutamente extraordinária. Infelizmente, é um caso isolado na história. Assim mesmo, vale a pena lembrá-lo. Diria que essas lições deveriam ser dadas certamente já na escola secundária, e quem sabe na primária, como exemplo de que a humanidade é capaz de coisas bem diversas e isso se contrapõe evidentemente ao holocausto.
Mas essa não era a minha problemática com o gandhismo. Gandhi para mim era e continua a ser o precursor das boas teorias de desenvolvimento, pela maneira como considerava a massa camponesa como o ator central do processo de desenvolvimento. Ademais, ele teve uma grande sensibilidade para aquilo que depois se chamou no debate de tecnologias intermediárias. Isto é, o que se pode fazer com tecnologias simples. Há uma semelhança extraordinária entre o pensamento de Gandhi e o de Franklin, um pragmático. Por exemplo, os dois dizem que se deve varrer as ruas do vilarejo para reduzir o pó e diminuir os casos de doenças pulmonares. E por assim adiante. De qualquer maneira, uma sensibilidade para o homem. Simultaneamente, uma total incompreensão do que significa produtividade econômica. Isto foi objeto de várias discussões minhas com Oskar Lange, que era um erudito em várias áreas. Ele dizia que Gandhi não entendia a produtividade do trabalho, porque a ética ocupava um espaço exclusivo na sua visão das relações inter-humanas.
Outro aspecto do pensamento de Gandhi que continua mais vivo do que nunca diz respeito ao autocontrole dos seres humanos, sua capacidade de limitar suas necessidades. Penso que esse é um desafio fundamental para a cultura dos países industrializados. Voltamos à pergunta “o quanto é bastante?” em 1975, num relatório da Fundação sueca Dag Hammarskiöld, preparado por ocasião da sessão especial da Assembléia das Nações Unidas, convocada para debater a Nova Ordem Econômica Internacional. Houve um debate acirrado naquela oportunidade a partir de provocações como as seguintes: é possível autolimitar o consumo da carne, o número de metros quadrados do apartamento? Vale a pena ter um carro particular na cidade? Não seria suficiente ter apenas agências de aluguel de carros para viajar fora da cidade? Portanto, o quanto é bastante? Essa é uma questão gandhiana.
Gostaria de terminar com um outro ponto ligado a Gandhi. A Índia tem uma geração de intelectuais que fizeram uma síntese extremamente interessante entre as teses de Nehru e as de Gandhi. O primeiro era um homem voltado para a modernidade, na trilha do socialismo fabiano. Falava muito do scientific temper, o espírito científico. Houve uma época, logo depois da independência, em que o legado de Gandhi ficou de lado e passou a dominar esse espírito científico, a fé na ciência e na tecnologia. Todavia, com o tempo, houve uma síntese do legado gandhiano com o de Nehru. Resumindo, Gandhi foi e é para mim um dos precursores das teorias modernas de desenvolvimento e a Índia deve a ele não só a maneira extraordinário pela qual se deu a independência, mas também uma formação intelectual singular.
A pobreza e a poluição
Estudos Avançados – Os relatórios do programa das Nações Unidas para o meio ambiente dizem que os atuais padrões de consumo no mundo estão além da capacidade de reposição da biosfera. O senhor concorda? É possível mudar esse quadro?
Ignacy Sachs – Certamente, concordo. Diria que, por ter participado da preparação da conferência de Estocolmo em 1972, que foi a primeira reunião das Nações Unidas sobre o meio ambiente, e, vinte anos mais tarde, da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, este é um tema absolutamente central. Para compatibilizar os objetivos sociais, econômicos e ambientais, temos de nos dedicar ao que chamaria de um jogo de harmonização. Nesse jogo temos que mudar, por um lado, os padrões da demanda e, por outro lado, os padrões da oferta. Estes últimos são os mais fáceis de manejar e vão nos remeter ao problema dos recursos naturais, aos tipos de energia, às tecnologias e à localização espacial das produções, porque as mesmas produções têm impactos ambientais diferenciados, segundo o lugar onde elas acontecem.
A mudança do padrão da demanda é logicamente a variável mais importante nesse jogo de harmonização, porém, ela passa pela modificação dos estilos de vida e dos padrões de consumo, assim é uma variável extremante difícil de se manipular e exige, antes de mais nada, um enorme esforço de educação. As margens de manobra seriam muito maiores se estivéssemos vivendo num mundo mais igualitário. Porque é muito difícil pregar a simplicidade voluntária quando se tem uma massa de excluídos, de pobres, que não vivem numa simplicidade voluntária. Vivem numa miséria imposta, um “castelo sem ponte levadiça”, no dizer de Albert Camus.
Essa discussão sobre a mudança dos padrões de consumo e dos estilos de vida deve levar em conta que o desenvolvimento é a construção de uma civilização do ser na partilha equalitária do ter, na definição lapidar do padre Lebret e, portanto, é impossível apostar numa mudança da civilização do ser antes que essa partilha aconteça na realidade. Este é o impasse atual. A parte mais importante da revolução ambiental no pensamento que ocorreu nos anos de 1970 foi a percepção de que não se pode dissociar a problemática ambiental da social. Em Estocolmo, a então primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, fez um discurso memorável no qual disse que a pobreza é a pior das poluições.
As micro e as pequenas empresas
Estudos Avançados – Por que seu livro Desenvolvimento humano e trabalho decente dá ênfase sobretudo aos empregadores de pequeno e médio porte?
Ignacy Sachs – Porque esse era o tema do livro, um informe preparado conjuntamente pelo Sebrae e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O livro reivindica de uma ótica do desenvolvimento a partir da geração de oportunidades de trabalho decente, no sentido da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, razoável em termos de remuneração, de condições e de relações de trabalho. O importante é dar-se conta de que as abordagens de desenvolvimento que se concentram no problema do crescimento do PIB e tratam a geração de emprego como uma mera resultante, que pode ser boa ou ruim, acabam por aceitar, na prática, que a exclusão social é um mal necessário, é o preço inelutável do progresso. Enfim, o mínimo que se pode dizer é que são incompletas. Não vamos ter geração de empregos sem crescimento, mas podemos ter crescimento econômico sem geração de emprego (jobless growth). Para evitar isso necessitamos de um conjunto de políticas explícitas que corrijam o viés do crescimento moderno, que se caracteriza por uma alta intensidade de capital e uma baixa densidade em emprego.
Dentro dessa problemática aparece, como uma das frentes de batalha importantes, o problema dos empreendimentos de pequeno porte. O micro-empreendedor é, em grande parte, informal, trabalhando por conta própria ou trabalhando em pequenos negócios. É lá que está a maior parte dos empregos. As estratégias de desenvolvimento precisam prever o que fazer com que esta gente que mal se mantém com o nariz acima da água, recorrendo àquilo que Fernando Fajnzylber (um economista chileno destacado que, infelizmente, morreu muito jovem) chamou de competitividade espúria. A competitividade deles passa por salários ou rendimentos muito baixos, jornadas de trabalhos longas, ausência da proteção social etc. O que fazer com essas pessoas? Como criar condições para que elas saiam da informalidade? Como criar condições para que a competitividade delas não seja unicamente uma competitividade espúria e sim transformada em competitividade real? Esse é um dos desafios da política do desenvolvimento e passa por um feixe de políticas públicas. Várias políticas públicas ao mesmo tempo, aquilo que o presidente do Sebrae, Silvano Gianni, chama de lei áurea do pequeno empreendimento.
Posso especificar o que é necessário. Primeiro, desburocratizar o processo da entrada na economia formal. Teoricamente, existe no Brasil um mecanismo que se chama Fácil, mas ele não é tão fácil com indica o nome e nem tão barato como deveria ser. Portanto, precisamos de um Fácil mais fácil. Por outro lado, sempre se pautando pelo principio de que, dadas as desigualdades e a heterogeneidade da sociedade brasileira, temos de aplicar um tratamento desigual aos desiguais, um tratamento preferencial para os mais carentes e fracos, o que significa uma fiscalidade diferente, com alíquotas mais baixas. Precisamos no Brasil de um Simples Fiscal, mas tem de ser mais abrangente do que ele é hoje, porque ele não abrange, por exemplo, os impostos municipais, que são os que mais incidem sobre os serviços.
Por analogia, um Simples Previdenciário que pague menos e que entre no sistema da Previdência, quando atualmente fica de fora. Depois, acesso à tecnologia. Da mesma maneira que o progresso das zonas rurais (da agricultura familiar e da reforma agrária) vai depender muito da construção de um sistema de extensão agrária eficiente, deveríamos pensar num sistema de extensão para os pequenos produtores urbanos, extensão para prestar assistência técnica. Depois vem o acesso ao crédito. A discussão gira ao redor do que se chama micro-crédito. Prefiro dizer crédito para micro-empreendedores em vez de micro-crédito, que é apenas uma forma, e talvez não a mais pertinente.
Em seguida vem o problema do acesso ao mercado que, entre outras coisas, demandaria uma política que permitisse aos pequenos abocanharem uma parcela maior de contas públicas. Nos EUA, há uma lei que obriga todos os organismos públicos a gastarem mais de 20% com os pequenos empresários.
As cooperativas e a informalidade
Finalmente, para que esses pequenos queiram e possam sair da informalidade, pois hoje eles não estão convencidos disso, é preciso dar ênfase muito maior ao empreendedorismo coletivo – cooperativas, associações, consórcios. O empreendedorismo coletivo não é uma antítese do individual. A união faz a força, como se diz. É lindo um livro de Kropotkine sobre a ajuda mútua ao dizer que a seleção natural pode ser feita de duas maneiras: pela luta ou pela ajuda mútua. Cinqüenta padeiros que passam a comprar farinha em conjunto vão ter preços melhores. Por incrível que pareça, as chamadas cooperativas de táxis na cidade de São Paulo não compram os automóveis para os cooperados, nem fazem coletivamente o seguro dos veículos. Imagino que, ao entrar numa loja de automóveis, se um representante de uma cooperativa manifestar que pretende comprar trezentos automóveis, certamente ele conseguiria um preço muito mais em conta. Mas devemos lembrar que o país tem uma tradição de pseudocooperativas de trabalho que são formas de burlar a legislação trabalhista. Essas devem ser eliminadas na medida do possível. Mas não há razão para que cooperativas genuínas de trabalho, devidamente enquadradas nas leis trabalhistas e previdenciárias, não sejam um parceiro privilegiado de obras públicas – municipais, estaduais e federais. Só quando tudo isso funcionar desse modo, é que estaremos criando um ambiente para que esses pequenos empreendimentos prosperem.
No Brasil, o conceito de cooperativas funciona, na realidade, em dois níveis. Há os catadores de lixos, badalados na imprensa, para dizer que se está fazendo alguma coisa para os excluídos. Por outro lado, há cooperativas agrícolas no Estado do Paraná que são de uma eficiência indiscutível, constituem um elemento importante do agro-negócio brasileiro. Entre os dois há um enorme espaço, por exemplo, para criar cooperativas de poupança e crédito.
Houve uma mudança legislativa recente que é importante – a de criar cooperativas que não são unicamente de pessoas que trabalham no mesmo ramo. Por exemplo, uma cooperativa de lojistas de uma rua. Estamos, na realidade, falando de formas do que no Brasil se chamou de economia solidária. Na Europa, denomina-se economia social, pois economia solidária é um conceito mais estreito, é uma parte da economia social. Fizemos o relatório já mencionado para o Sebrae e o PNUD essencialmente para mostrar que os pequenos são também heterogêneos. Porque não dá para ter a mesma política para o catador de lixo e para o fornecedor de software. Existem pequenas empresas de alta tecnologia e há, nas universidades, incubadoras de empresas de alta tecnologia. Mas para cada segmento dessa população heterogênea é preciso ter políticas diferentes. Uma pesquisa recente sobre a informalidade, preparada pela consultura McKinsey, está sendo muito badalada pela imprensa aqui no Brasil. Todavia, a meu ver, passa ao lado da verdadeira problemática, porque coloca todas as informalidades no mesmo saco. Na realidade, existem pelo menos dois tipos de informais: de um lado estão os informais por necessidade (ou por desespero), ou seja, os trabalhadores por conta própria e os empregados dos micro-negócios buscando estratégias de sobrevivência, e de outro lado estão os informais por decisão – malandros, sonegadores, contrabandistas, aproximando-se da fronteira tênue entre as atividades informais porém lícitas e as atividades ilícitas.
Um estudo publicado pelo Valor mostrou que, durante vários anos, a Souza Cruz, uma das maiores empresas de produção de cigarros no mundo, estava exportando quantidades fabulosas de cigarros para o Paraguai, sabendo perfeitamente que esses cigarros voltam como contrabando para o Brasil. Do ponto de vista jurídico, a exportação era legal. Contudo é estranho que a empresa não tenha se dado conta de que estava fomentando o contrabando. Essa história de que a principal razão da informalidade são os impostos altos está longe de oferecer uma explicação convincente da informalidade.
A recuperação do mercado interno
Estudos Avançados – Que alternativas a curto e médio prazo podem ser propostas para a recuperação do mercado interno e do emprego no Brasil?
Ignacy Sachs – A política com relação aos micro e pequenos empresários é uma parte da questão, mas há outras possibilidades. Primeiro, a produção do que os economistas chamam de bens e serviços não-comerciáveis (ou seja, que não estão sujeitos à competição internacional), cria um maior espaço para a seleção de tecnologias. As obras públicas, de que já falamos, a construção civil, a produção de serviços, podem ser feitas com técnicas mais densas em empregos, sem cair no exagero das frentes de trabalho “só com uma pá na mão”. Mas entre essas frentes de trabalho “só com a pá na mão” e os equipamentos mais modernos, importados para a construção de estradas, temos um largo espaço para diversas escolhas
Em segundo lugar, continuo convencido de que o maior trunfo deste país é a possibilidade de entrarmos num novo ciclo de desenvolvimento rural. Há ainda um potencial de empregos a serem criados ao redor do que se pode chamar de aumento da produtividade dos recursos naturais, ou seja, tudo aquilo que leva à conservação da energia e da água, à reciclagem, à reutilização de materiais etc. Em outras palavras, pode-se tirar mais do aparelho de produção existente, contribuindo para o desenvolvimento sem necessidade de grandes investimentos. Por analogia, tudo que diz respeito a uma manutenção mais cuidadosa do patrimônio existente de infra-estrutura, equipamentos, parque imobiliário, parque viário etc., prorroga a vida útil desse patrimônio. Portanto, reduz a demanda por capital de reposição e libera mais capital para novos investimentos. Diria que nestas três vertentes há muito o que fazer.
E agregaria outra. A economia brasileira não poderá prescindir de investir muito no núcleo modernizador constituído por empresas de alta tecnologia que não vão gerar empregos diretos. Creio que há, no entanto, um campo para uma negociação entre as grandes empresas e os empreendimentos de pequeno porte ao seu montante e juzante para gerar empregos indiretos em quantidade maior do que está acontecendo. O Brasil poderia retomar a experiência abandonada de câmaras setoriais, só que precisamos de uma negociação quadripartite com os seguintes participantes: trabalhadores, empresários, o Estado como mediador e a sociedade civil organizada. De uma maneira geral, o futuro das políticas de desenvolvimento passa pelo conceito de desenvolvimento negociado e pactuado pelos parceiros do processo, pela definição clara do que cada um faz e como cada um contribui.
Uma nova civilização no trópico
Estudos Avançados – Quanto à questão do trabalho no mundo rural, que iniciativas podem ser tomadas? No nível da reforma agrária, no da agricultura familiar, em face do agro-negócio e da agricultura transgênica?
Ignacy Sachs – O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, uma reserva confortável de solos agrícolas (mesmo que não se toque em uma só árvore da flo-resta amazônica), climas amenos, vantagens naturais do trópico na produção de biomassa etc. O sol é nosso e assim ficará quaisquer que sejam as vicissitudes do regime político. Há uma massa de gente que está reclamando terra e que criaria um problema muito mais grave ao desfilar pelas ruas de São Paulo pedindo emprego no asfalto. Por fim, o Brasil tem uma pesquisa agronômica e biológica de classe internacional.
Ao juntar todas essas coisas pode-se partir para um objetivo extremamente ambicioso, o da construção de uma nova civilização do trópico, baseada no trinômio biodiversidade, biomassas e biotecnologias, estas últimas utilizadas para, por um lado, aumentar a produtividade das biomassas e, por outro lado, abrir o leque dos produtos delas derivados: alimentos, ração, energia, fertilizantes, materiais de construção, matérias-primas industriais, fármacos e cosméticos. É todo um mundo que se pode construir a partir da biomassa, caminhando dessa maneira para um desenvolvimento ecologicamente sustentável.
Os adjetivos utilizados para se qualificar o desenvolvimento têm variado. Hoje, trabalho com três: includente do ponto de vista social, sustentável do ponto de vista ecológico e sustentado do ponto de vista econômico. Esse é o tripé. Dentro dessa visão, podemos almejar uma civilização moderna do vegetal, por analogia com as grandes civilizações do vegetal do passado, tão bem descritas pelo geógrafo tropicalista Pierre Gourou, autor de Terras de boa esperança. Uma civilização moderna é perfeitamente possível com o pró-cana e o pró-diesel como carros-chefe.
O que é preciso para isso? Primeiro, evidentemente, acelerar e completar a re-forma agrária. A revista Estudos Avançados publicou um documento importante sobre o assunto. A reforma agrária não se limita à distribuição de terra. A analogia é perfeita com o que eu disse a respeito dos empreendedores de pequeno porte. Os assentados da reforma agrária necessitam não só do acesso à terra, mas também aos conhecimentos, ao crédito, aos mercados. É indispensável uma política de apoio à agricultura familiar, tanto a resultante da reforma agrária como aquela que já existe. Isso leva a um conceito de agro-negócio que é diferente do grande agro-negócio atual. Este, baseado essencialmente na produção de grãos e de carne, gera divisas, riqueza, mas poucos empregos.
A chance histórica do Brasil é que ele pode se dar ao luxo de manter por algum tempo ambas as formas. Há espaço para uma, há espaço para outra. Não é preciso proceder a arbitragens dolorosas, mas é essencial que haja um feixe de políticas públicas voltadas para essa questão. E dentro dela vai haver certamente espaço para a articulação dos pequenos produtores com empresas industriais de porte maior, buscando sinergias positivas em vez de relações adversariais. Se não fizermos desse problema de articulação uma política, onde deve haver mais transparência e espaço para a negociação, onde haja regras que fortaleçam o pequeno frente ao grande, corremos o risco de não realizar os objetivos sociais do desenvolvimento.
Confesso que não tenho sobre os transgênicos uma opinião firme. A não ser o seguinte: não façamos disso um caso de religião. A analogia com a energia nuclear é bastante forte. Não nos privemos do acompanhamento dos progressos científicos nesse domínio. Ao mesmo tempo, tentemos introduzir os conceitos de prudência e de bioética. A partir daí, examinemos os casos um por um. Só acrescentaria que, ao lado do mega-agro-negócio, pode existir um agro-negócio democrático, baseado nas cooperativas e em outras modalidades de economia solidária.
A ampliação do número de empregos
Estudos Avançados – De que modo as obras públicas podem induzir o crescimento do número de postos de trabalho na infra-estrutura, na área de habitação e em outras?
Ignacy Sachs – Podem e devem criar um número grande de empregos, mas na realidade isso nos remete a uma das grandes controvérsias do pensamento econômico. Ou seja, como fazer com que o crescimento não seja inflacionário? Há duas doutrinas. Existe a doutrina monetarista, que engessa o país alegando a vulnera-bilidade externa, o problema da dívida externa, e não permite avançar nesse caminho. E existe a teoria estruturalista da inflação, na qual se destacaram vários economistas latino-americanos. É possível avançar na direção de mais obras públicas sempre que a economia tenha capacidade de produzir os bens de consumo para enxugar a demanda adicional proveniente dos salários distribuídos nas obras públicas. Na realidade, existem só dois limites, o primeiro é a capacidade de incrementar a produção de bens de consumo e o outro são problemas relacionados com a capacidade de importar.
No caso do Brasil, é possível imaginar obras públicas que não requerem um dólar de importação e é óbvio que a economia brasileira possui hoje capacidades ociosas na produção de alimentos, de havaianas, de jeans e de camisas, que são os bens que esta gente vai comprar. Portanto, os estruturalistas deveriam pleitear, a meu ver, pelo menos um maior afrouxamento do crédito, já que a relação crédito/PIB no Brasil é uma das menores do mundo e que uma parcela diminuta desse crédito vai para o tipo de obras de que estou falando.
Creio, portanto, que há possibilidades de avançar mais rapidamente, mas isso requer a superaração da herança maldita de 25 anos da contra-reforma neoliberal que continua a fazer a cabeça de muitos economistas.
Moradia é um outro caso que me parece sub-aproveitado. Creio que esse país tem tudo para realizar um grande programa de autoconstrução de moradias populares. Não se deve deixar a construção unicamente na mão do futuro morador. É preciso que haja planejamento, assistência técnica, que o processo seja conduzido numa parceria público-privada, mas na qual os futuros moradores contribuam com uma parcela substancial do custo através de uma poupança não monetária. Ao trabalharem na sua futura casa, na realidade eles estão poupando, mas não poupando em termos monetários. Isso é um elemento adicional para financiar o crescimento econômico.
Em geral, o investimento não monetário tem também uma grande importância na agricultura familiar. A família que constrói sua casa, que faz as cercas, está na realidade investindo, sem investir um real. É um investimento não-monetário subes-timado nas estatísticas.
A influência dos mercados financeiros
Estudos Avançados – Os mercados financeiros estão afetando a governa-bilidade dos países “em desenvolvimento”?
Ignacy Sachs – Sua pergunta me lembra aquela do menino que pergunta ao pai se cobra tem rabo, o pai responde: a cobra é só o rabo. Ou seja, a resposta é óbvia, porque são um empecilho enorme. Primeiro, devido à flutuação, à incerteza permanente que reina. Da manhã à noite os noticiários falam do risco Brasil, que é algo não totalmente arbitrário mas manipulável. Segundo, eles (os mercados financeiros) têm uma influência enorme sobre o comportamento das pessoas. Terceiro, existem os acordos internacionais que impõem toda uma série de regras desfavoráveis aos países do Sul. Portanto, os mercados financeiros criam para os países como o Brasil um ambiente externo desfavorável, para não dizer hostil.
Estudos Avançados – Há exemplos de países que foram capazes de contornar os constrangimentos impostos pelo Fundo Monetário Internacional? A moratória parcial seria realmente catastrófica?
Ignacy Sachs – Evidentemente, há exemplos. Existem trabalhos de J. Stiglitz e de outros economistas que apontam para a diferença entre o que está acontecendo na América Latina e o comportamento que tiveram certos países asiáticos – China, Índia, Malásia etc. O próprio Chile teve por muitos anos uma política que controlava as entradas e saídas de capital especulativo através do regime fiscal. Portanto, métodos existem. Dão resultados? Sim, mas temos de ser prudentes.
A China e a Índia, que estão sendo hoje apontados como países que têm altas taxas de crescimento, estão num crescimento rápido, numa modernização fortíssima, numa industrialização acelerada. No caso da Índia, há uma entrada espetacular no mercado internacional de serviços informáticos. Contudo, trata-se de um modelo que o Brasil já teve sob os generais, ou seja, crescimento rápido, porém socialmente perverso, excludente e concentrador da renda. Resultado, o governo indiano, contra todas as expectativas, perdeu as eleições, apesar dos seus sucessos internacionais e da sua propaganda sobre a “shining Índia”, a Índia que brilha. Por que este paradigma funcionou no passado no Brasil e está funcionando hoje na China, porém sofreu o repúdio por parte da população indiana? Qual a diferença? É a democracia.
É importante ter uma política que proteja o país contra as pressões do mercado financeiro. O embaixador Rubens Ricupero insiste sempre sobre as diferenças entre a globalização comercial e a financeira. A globalização comercial oferece oportunidades, enquanto a financeira gera obstáculos. Devemos ambicionar não só um crescimento forte, mas um crescimento que seja socialmente includente e ambiental-mente sustentável. O caso da China, do ponto de vista ambiental, se posso me ex-pressar assim, é uma tragédia grega.
Examinemos a questão da moratória e o caso da Argentina. É muito importante porque, para pensarmos o desenvolvimento no século XXI, temos de partir de uma visão histórica do que aconteceu com os diferentes paradigmas de desenvolvimento nesse último meio século. Tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, uma fase de trinta anos que eu chamaria de capitalismo reformado, baseado na idéia de pleno emprego, do Estado protetor e do planejamento. Funcionou trinta anos porque os capitalistas tinham de enfrentar a competição do socialismo real, que, no após guerra, afigurava-se como uma alternativa crível; veja-se a votação que obtinham os partidos comunistas da França e da Itália.
Estávamos, portanto, com dois modelos – o capitalismo reformado e o socialismo real. Por razões que seriam longas demais para explicitar, podemos dizer que o poder atrativo do socialismo real foi diminuindo e entrou em agonia com a invasão da Tchecoslováquia, em 1968, acabando por morrer com a queda do muro de Berlim em 1989. Assim que a credibilidade do socialismo real começou a baixar, o capitalismo voltou à sua arrogância de antes, anterior a 1930, e tivemos a contra-re-forma, pela mão da Margaret Thatcher e do falecido presidente Ronald Reagan. No bojo dessa contra-reforma surgiu o consenso de Washington.
As lições da Argentina
Há um belíssimo texto de Marshall Berman (aquele sociólogo norte-americano autor do livro Tudo que é sólido se desmancha no ar) que apresenta a segunda parte do Fausto, de Goethe, como a primeira tragédia do desenvolvimento. Podemos dizer que este episódio de Fausto foi uma tragédia vitual. A descida da Argentina ao inferno foi uma tragédia verdadeira, que representou, para o consenso de Washington, o que a invasão da Tchecoslováquia e a queda do muro de Berlim foram para o socialismo real. Em sendo assim, é difícil pensar que o consenso de Washington sobreviva por muitos anos à tragédia da Argentina, um dos países mais avançados do mundo após a Primeira Guerra Mundial, mas que agora acabou nesse “buraco negro”.
Os argentinos não tinham outra solução além da moratória. E podemos dizer que até agora nenhuma das ameaças proferidas contra eles se cumpriram. O caso não está encerrado. Penso que uma renegociação séria das dívidas deve partir da avaliação do quanto o devedor pode pagar sem asfixiar a sua economia. Ou seja, em vez de matar a galinha dos ovos de ouro, os credores deveriam contentar-se com ovos de prata, fornecidos por um período de tempo mais extenso. A capacidade de pagar é o ponto de partida e o que deve ficar em aberto é o número de anos necessário para saldar a dívida, desde que se afete uma porcentagem fixa das exportações ao serviço da dívida. Assim, o país credor passa a estar interessado no aumento das exportações do país devedor, porque quanto maior for o valor das exportações tanto menor será o período em que esse país pagará a dívida. Isso na hipótese de que os países credores queiram realmente o pagamento da dívida. Normalmente, o banqueiro não deseja que a dívida seja quitada, o que interessa são os juros.
Não foi feita até hoje uma tentativa suficientemente séria de renegociação das dívidas dos países pobres e não a teremos enquanto não houver uma coordenação e maior solidariedade entre os países devedores. Daí para mim a importância do que o governo brasileiro atual está fazendo para consolidar o G3 – Brasil, Índia e África do Sul e, na medida do possível, reconstruir o bloco dos não-alinhados! Hoje, não são mais os não-alinhados porque não estamos mais num mundo bipolar, no qual se enfrentavam o bloco ocidental e o bloco soviético (com a China correndo por seu lado), procurando atrair para si os países do Terceiro Mundo. Agora, estamos cada vez mais nos aproximando de uma nova configuração bipolar com os países industrializados por um lado e os demais por outro.
Os países industrializados conversam entre si e possuem organizações que permitem a articulação de suas políticas. Não em tudo, é óbvio, porque existem contradições sérias entre os Estados Unidos, o Japão e a Europa. A Europa está longe de ter uma posição comum, mas existe uma Comunidade Européia. Porém, até hoje não há uma comunidade dos países pobres. Aliás, esta foi uma das propostas que formulamos em 1975 no informe Que fazer, já mencionado.
É essencial o planejamento
Estudos Avançados – Atualmente, a idéia de planejamento parece ter perdido muito de sua importância. No entanto, o desenvolvimento sustentado demandaria o restabelecimento dessa idéia, ainda que em moldes distintos. Como o senhor vê essa questão, especialmente no que diz respeito aos papéis que podem desempenhar o Estado e a sociedade civil?
Ignacy Sachs – Estou totalmente de acordo. Diria que esta é uma das minhas preocupações principais. O fato de que o planejamento de tipo soviético tenha mor-rido na praia não significa que devamos nos desfazer do conceito de planejamento. Não conheço nenhuma grande empresa de porte mundial que não esteja planejando. Como é que os Estados-nação poderiam prescindir de planejamento?
Alguns ideólogos da globalização (aliás, a globalização é também uma ideologia) dizem que o Estado-nação perdeu a sua importância na época atual. Isso é uma balela. Mais do que nunca, para se proteger contra os efeitos negativos da globalização e para aproveitar, na medida do possível, as oportunidades que surgem, precisamos de estratégias nacionais. Esta foi umas das tônicas da mensagem de Rubens Ricupero na última UNCTAD.
Se assim é, essas estratégias requerem, como Celso Furtado não se cansa de repetir, um projeto nacional discutido, negociado, que surja de um grande debate social. Um projeto nacional que resulte de um planejamento estratégico, flexível, onde não são os objetivos quantitativos que dominam. Planejamento contextual, onde não se atua diretamente sobre o objetivo, e sim cria-se condições que empurram os atores para determinadas direções. Planejamento negociado, onde o Estado, os empresários, os trabalhadores e a sociedade civil sentam à mesa. Planejamento pactuado, onde se chega à contratualização dos objetivos e das obrigações dos diferentes parceiros. O aprimoramento dos métodos de planejamento do desenvolvimento é uma das grandes tarefas das ciências sociais. Em vez de tratá-lo como um apêndice do planejamento econômico, devemos inverter esta relação: o econômico é apenas uma das dimensões, por importante que seja, do desenvolvimento.
Desenvolvimento e cultura
Estamos vivendo uma série de confusões semânticas que, na realidade, são confusões epistemológicas. Por exemplo, em quase todos países do mundo, o desenvolvimento ambientalmente sustentável é atrelado ao Ministério do Meio Ambien-te. Um absurdo. O desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável requer a coordenação de todos os ministérios. Ele deve informar a estratégia global do país. E não é um sub-secretário de um Ministério do Meio Ambiente, como ocorre hoje, por exemplo, na França, que está em condições de coordenar os pesos-pesados representados pelos ministros das Finanças, da Indústria, da Agricultura etc.
Como já foi dito, queremos planejar o desenvolvimento, que evidentemente depende do crescimento econômico, mas não é uma resultante automática deste. O desenvolvimento é, por definição, um conceito pluridimensional com um forte componente cultural. Celso Furtado sempre insiste que o desenvolvimento requer a invenção do futuro. Não uma invenção resultando de voluntarismo desenfreado e sim baseada no exercício de um voluntarismo balizado pelo princípio da responsabilidade de Hans Jonas, e inspirado pelo princípio da esperança de Ernest Bloch. Portanto, uma invenção que exige uma dupla imersão, na cultura e na ecologia.
A cultura é um conceito polissêmico. Numa nota de trabalho que entreguei ao ministro Gilberto Gil usei uma definição do professor Bosi, colocada na Dialética da colonização. A cultura do antropólogo é uma coisa, a cultura como conjunto de atividades culturais, artísticas, é outra coisa. Existe ainda a cultura representada pelo conhecimento da sociedade sobre o seu meio.
É a partir dessas três culturas que podemos definir as metas, os objetivos do desenvolvimento. Aí vai aflorar fortemente a problemática dos estilos de vida, dos modos de consumo. Por isso deveríamos dedicar mais atenção à análise dos modelos culturais do uso do tempo. Ou seja, quanto tempo alocado às atividades do homo faber, do homo civis, do homo ludens, quanto tempo do homo faber no mercado e em atividades econômicas fora do mercado etc. Devemos reabilitar a distinção entre o trabalho heterônomo e o trabalho autônomo e analisar a diversidade dos estilos de desenvolvimento, a partir desse ponto de entrada que é a articulação dos diferentes modos de uso do tempo.
É óbvio que sendo um conceito pluridimensional, o desenvolvimento requer abordagens pluridisciplinares e não a prepotência do economista. Com essas ressalvas, considero que se deve voltar simultaneamente ao ensino do planejamento e da teoria do desenvolvimento, disciplinas que estão desaparecendo em muitas universidades, pois a vulgata reformista liberal considera esses dois conceitos como redundantes.
Se se acredita numa economia atópica e atemporal, aplicável da mesma maneira em qualquer lugar do mundo, para que perder o tempo com o desenvolvimento?
Para complicar ainda mais a situação, surgiu um ataque organizado de certos pós-modernistas contra o conceito de desenvolvimento. Eles acham que o desenvolvimento foi uma armadilha ideológica para enganar os países do Sul. Deveríamos, portanto, deixar de lado o palavrório do desenvolvimento e partir para um pós-desenvolvimento. Estou, porém, à espera de um texto que explique o que isso vai significar e demonstre que não se trata de uma mera brincadeira semântica.
Uma vertente do pós-desenvolvimentismo consiste na volta à ecologia profunda, à deep-ecology e a uma exortação para parar de crescer de uma vez para não prejudicar ainda mais os desequilíbrios ecológicos. Contra eles digo: enquanto houver diferenças abismais entre os pobres e os ricos, dentro dos países e entre os países, não temos o direito de parar. Precisamos resgatar a dívida social e fazer isso com urgência, porque de todos os desperdícios que caracterizam nossa civilização o mais terrível é o das vidas humanas causado pelo desemprego, subemprego e exclusão social. As vidas humanas fluem, não é possível estocá-las, por isso é absurdo falar de capital humano. O capital a gente coloca no banco e ainda ganha os juros. Uma pessoa que não tem condições de se realizar é um desperdício irreparável, irreversível, um insulto à ética.
Mais do que nunca temos urgência na problemática do desenvolvimento, conceito duplamente central. Primeiro, porque permite analisar o passado não para encontrar modelos a serem replicados, mas para construir muletas para a imaginação social, para encontrar exemplos que devem ser superados na medida do possível; a ambição deve ser sempre de se dar um passo à frente.
Segundo, porque oferece um arcabouço intelectual para a invenção do projeto nacional. O desenvolvimento é pluridimensional, plurisciplinar, subordinado ao duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração presente e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Portanto, requer um paradigma oposto ao excludente e concentrador que conhecemos no passado, o essencial é criar um desenvolvimento includente e, ao mesmo tempo, superar os modos predatórios de utilização da natureza. Não se trata de não usar a natureza. Não se trata tampouco de propor o não- desenvolvimento em nome do ambientalismo. Trata-se de definir o bom uso da natureza. Du bon usage de la nature é o título de um livro de um casal francês, os Larrere. Ela ensina filosofia em Bordeaux e ele é agrônomo.
E, finalmente para acontecer, o projeto de desenvolvimento tem de ser economicamente viável.
O papel do Estado
Agora a pergunta – qual o papel do Estado? Não acredito que voltemos, num futuro próximo, à idéia de um Estado onipotente, mas acredito e faço votos que superemos o mais cedo possível a idéia de um Estado mínimo, que permeia a teologia neoliberal. Portanto, se não queremos o Estado mínimo nem o Estado onipotente, o que desejamos? Queremos um Estado enxuto, não aquele monstro super dimensionado. Queremos um Estado limpo, não corrupto. Queremos um Estado atuante e pró-ativo. Um Estado que organize e conduza o processo de negociação entre todos os atores do processo de desenvolvimento. Este é um dos desafios maiores que o futuro nos coloca.
Lições de uma pesquisa no Brasil
O que a teoria oferece? As ciências sociais são essencialmente heurísticas, permitem formular perguntas que não são óbvias, que não estão na superfície dos acontecimentos. As respostas vêm sempre a partir da práxis. O diagnóstico aprofundado exige também uma visão aprofundada da realidade social. Portanto, há anos aceito, sempre que posso, os convites para andanças que permitem visitar os mais diversos lugares. Tive várias experiências no Brasil muito bem-sucedidas, do que poderia se chamar de seminários peripatéticos. Ou seja, partir com um grupo e discutir durante a viagem. Fiz um seminário desses, memorável, com o pessoal do Instituto de Tecnologia de Minas Gerais, com o então secretário adjunto de Ciência e Tecnologia daquele Estado, Otávio Elísio Alves de Brito, na região do lago de Três Marias.
Era nossa primeira tentativa de definir um projeto de eco-desenvolvimento, que deu depois com os burros n’água, numa cidadezinha que se chama Juramento. Estávamos lá, numa paisagem que faria jus a um conto de Guimarães Rosa. Fiquei absolutamente abismado com a quantidade de espaço livre. E, por outro lado, de ter encontrado num povoado uma mulher grávida, vivendo numa choupana, embaixo dos fios elétricos, mas sem acesso à rede. Era um casebre de dez metros quadrados. Ela cozinhava num fogareiro, na frente da casa, porque não havia lugar lá dentro. Tinha dois filhos. O marido estava trabalhando na produção de carvão vegetal, longe dali. Dois filhos tinham morrido e dois outros estavam com os sogros. Todos numa miséria absoluta, no meio de todo este chão, que não podiam cultivar. Uma horta instalada ao longo da estrada vicinal já seria uma mão na roda. Essa foi uma primeira coisa que discutimos no seminário.
A razão de irmos até aquele lugar decorreu do fato de que, na época, Antunes (um dos grandes industriais brasileiros), acabava de comprar uma imensa gleba porque pensava em produzir álcool a partir da mandioca. Eu estava defendendo a idéia de que a mandioca pode ser produzida por cooperativas de pequenos agricultures familiares e que as ramas da mandioca poderiam ser utilizadas para criar porcos. E como estávamos à beira do lago, o esterco dos porcos poderia ser aproveitado para criar peixes, se fosse possível se proteger contra as piranhas que infestavam o lago. Portanto, seria extremamente interessante obter uma gleba ao lado para criar uma cooperativa de cem famílias com vinte hectares cada uma. A propriedade do Antunes tinha duzentos mil hectares. Eu queria muito menos e estava pleiteando ao mesmo tempo duas ilhas no meio do lago. Uma, para criar um observatório das transformações da ecologia do lago e a outra para criar uma fazenda-modelo-escola para ensinar aos membros da futura cooperativa como se implanta e administra um sistema integrado de produção de alimentos e energia (álcool) a partir da mandioca. O projeto acabou em nada porque a Codevasf nos informou que não tinha mais hectare de terra algum disponível naquela área.
Mas nesta viagem aconteceu um episódio que sempre conto em aulas. Subimos numa balsa para atravessar um braço do lago. Ao nosso lado havia um caminhão. O caminhoneiro informou que ia para Feira de Santana, distante de mais de novecentos quilômetros e próxima do litoral. Perguntei o que ele levava para lá? Respondeu: “peixe”. “Que peixe?” A pergunta ficou três vezes sem resposta. Finalmente o homem disse: “Vejam lá”. Ele estava transportando uma tonelada de piranhas no gelo. Levei um certo tempo para resolver o caso, porque não sabia que a sopa de piranha era um afrodisíaco muito estimado na Bahia e por isso valia a pena transportá-la por 960 quilômetros de asfalto.
Sempre uso esse episódio para dizer que não dá para discutir o desenvolvimento sem um forte embasamento na antropologia cultural. Nenhum modelo matemático de economia vai resolver um assunto como este. Precisamos desses conhecimentos. Ciências sociais são ciências de campo e não devem erigir barreiras entre as diferentes disciplinas. Isto aprendi com a École des Annales. Os historiadores dessa escola praticam uma história global e não se questionam se estão no âmbito da história, da antropologia, da economia ou da sociologia.
O ofício do planejador do desenvolvimento assemelha-se muito ao ofício do historiador, com a diferença de que este trabalha sobre o que já aconteceu, e nós temos a arrogância, a pretensão, a ambição ou talvez a insensatez de pensar que é possível dar uma inflexão à trajetória futura. A respeito deste paralelo entre os ofícios do planejador e do historiador, escrevi um pequeno ensaio para o Festschrifit oferecido a Paul Bairoch.
Inesquecíveis experiências em Varsóvia
Estudos Avançados – Como foi sua passagem pela Escola Superior de Planejamento e Estatística, em Varsóvia, na década de 1960 (a famosa SGPIS)? Essa escola não teve inegável importância na formação de planejadores de países do Terceiro Mundo? O senhor não gostaria de contar aos nossos leitores algo de sua experiência como professor nessa escola?
Ignacy Sachs – Foi uma das experiências que mais me enriqueceram. Ao voltar da Índia, em 1960, fui encarregado da criação do primeiro centro de pesquisas sobre economias de países subdesenvolvidos, em Varsóvia. Era na Escola de Planejamento e Estatística, na qual lecionei de 1961 a 1968. Michal Kalecki era o presidente do Conselho desse Centro, um presidente atuante. Durante oito anos nos víamos diariamente. Assim, tive o privilégio de conviver e colaborar com um dos maiores economistas do século e um homem admirável, pela sua modéstia e pelo seu caráter. Começamos a realizar diversos trabalhos, inclusive seminários sobre o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. Neles participavam Kalecki, Lange e Bobroswski, os três principais economistas da Polônia, além dos pesquisadores poloneses encarregados de missões de assistência técnica nos países africanos e asiáticos. Além disso, vinham convidados para o Seminário renomados economistas estrangeiros, atraídos pelos nomes de Kalecki e Lange.
Daí surgiu a idéia de se criar um curso de planejamento para economistas do Terceiro Mundo, com um forte apoio das Nações Unidas, o que nos permitiu dar bolsas e custear a vinda de professores, notadamente da Ásia e da América Latina. Esse curso começou em 1963 e tivemos um grupo de brasileiros: Jorge Miglioli, Lenina Pomeranz, Ivan Ribeiro Filho e Artur Candal. Na época, éramos conhecidos como a Cambridge do Leste. Um relatório de uma subcomissão do Senado norte-americano chegou a dizer que o curso era uma arma extremamente forte na luta pela alma do terceiro mundo, pelo fato de que não tentava fazer doutrinação ideológica alguma.
Nosso trabalho estava baseado na seguinte idéia: venham compreender como funciona na realidade (sem esconder os seus defeitos) uma economia socialista, mas não transponham diretamente essa experiência para seus países, porque há diferenças fundamentais entre países capitalistas desenvolvidos, países socialistas e países do Terceiro Mundo. Kalecki, com aquela sua capacidade de fórmulas extremamente compactas, resumiu essas direrenças da maneira seguinte: os países desenvolvidos têm problemas de demanda efetiva e devem administrá-la para evitar as crises. Os países subdesenvolvidos e os países socialistas têm em comum o fato de que são limitados pela oferta, pela insuficiência do aparelho de produção. Os países socialistas, em comparação com os países do Sul, têm um grau de controle muito maior sobre a economia. Estes últimos juntam o pior dos dois mundos.
Toda a tônica do ensino era mostrar como funcionava a economia polonesa, com uma crítica objetiva das insuficiências do sistema, apontando ao mesmo tempo as diferenças, com o caso dos países subdesenvolvidos.
Dávamos grande importância a uma singularidade do caso polonês, o único país do leste que não implantou a coletivização completa no campo. Fez uma coletivização que mal abrangeu 10% a 15% das terras e em 1956 permitiu que as cooperativas se dissolvessem. Portanto, era um país com uma agricultura camponesa, individual e com minifúndios. Nesse contexto, vale a pena mencionar Jerzy Tepicht. Ele tem um livro em francês com um título péssimo, Le marxisme et le paysan polonais. Depois de ter sido responsável pela coletivização, cargo a que renunciou depois de um ano, ele foi para o Instituto de Pesquisas sobre o Desenvolvimento Rural, onde passou quinze anos a refletir porque a coletivização não podia resolver o caso polonês. Chegou, então, a uma teoria extremamente original, na qual afirmava que a coletivização das terras deveria ser a última etapa da socialização do campo, quando o que pregava a ortodoxia era que fosse realizada em primeiro lugar. Essa reflexão se inspirava, entre outras coisas, em teses de Chayanov, o teórico russo do cooperativismo e apontava para o potencial das reservas da mão-de-obra na agricultura familiar para alavancar o desenvolvimento. Ivan Ribeiro estudou com afinco o pensamento de Tepicht. Era evidente o enorme interesse despertado pelo curso em vários países do Terceiro Mundo. Vivi essa experiência seis anos, e passaram pela nossa mão mais de duzentos economistas do Terceiro Mundo. Fizemos, num dado momento, um curso à parte, em francês, para os argelinos. Quando saiu aquele relatório da subcomissão do Senado norte-americano, fomos chamados pelo ministro da Educação, que nos perguntou: “o que vocês precisam a mais?” Respondemos: não precisamos de grande coisa a mais, queríamos apenas integrar o Seminário de Kalecki, o nosso centro de pesquisas e o curso de planejamento num Instituto.
Mas veio o ano de 1968 e fomos alvos de uma campanha feroz. Não era ainda a demissão do Gomulka, era a preparação da invasão da Tchecoslováquia. Houve uma provocação em que fomos acusados de sermos uma quinta-coluna sionista e revisionista. Depois de um ano ou dois daquela avaliação tão favorável ao nosso trabalho, ninguém se lembrou dos elogios que nos tinham sido feitos.
Atravessei esse período conturbado de 1968 em parte na América Latina, porque fui fazer uma palestra no México e depois passei três semanas num seminário da Cepal em Santiago. Quando voltei a Varsóvia o reitor me chamou e disse: “O seu projeto de Instituto foi aprovado”. Em seguida, ele citou os nomes dos novos diretores dessa instituição. Respondi que a única coisa que me restava era entregar as chaves. Ao que ele disse: “Não, lhe peço um favor pessoal, isso ainda não está formalizado. Continue na chefia do Centro”. Assim passaram duas semanas e numa manhã abri o jornal e aprendi, entre outras coisas, que, sob o pretexto de construir pontes entre Leste e Oeste, eu fazia o contrabando do estruturalismo de Lévi-Strauss e de outros “ismos” burgueses.
Na verdade, na época participei de um grande projeto da Unesco sobre as tendências principais nas ciências sociais. Nele fui representar Oskar Lange, que logo depois morreu. Eu atuava ao lado de Lévi-Strauss, Lasarsfeld, Piaget, Jakobson, Trist, além de outros cientistas de renome internacional.
Esses foram os eventos que me afastaram de meu país natal. Contudo, em 1968, retomei à mesma problemática num âmbito mais auspicioso, em Paris, convidado por Fernand Braudel, para integrar a hoje École des Hautes Études en Sciences Sociales.
* Publicado originalmente no site do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.