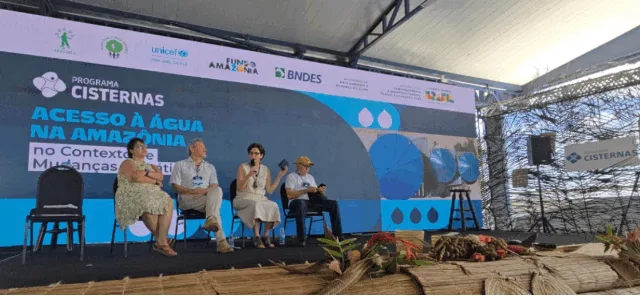As economias da América do Norte e da Europa estão se tornando mais endividadas à medida que a criação de crédito e débito pelos bancos, nos teclados de seus computadores, torna-se uma operação praticamente sem custos (0,25%). Especuladores, árbitros e instituições financeiras do Norte observam as economias menos endividadas do Brasil e de outros países do BRIC, nos quais rendas provenientes de recursos, rendas fundiárias e o fluxo de caixa industrial ainda não estão comprometidos com o pagamento do serviço da dívida.
Mas será que o Brasil realmente precisa recorrer a um crédito externo que poderia ser criado no próprio país para cobrir os gastos internos? O que interessa ao Brasil é salvar sua economia do sobreendividamento, principalmente de dívidas com credores externos. Sua meta deveria ser evitar a arquitetura financeira que hoje exige a deflação da dívida nas economias do Norte.
O Brasil e seus companheiros do BRIC enfrentam o dilema oposto: seus bancos centrais têm pouca opção a não ser inverter a direção e investir seus fluxos de capital em títulos do Tesouro americano. Esses títulos praticamente não rendem juros, e é provável que seu valor decline em relação às moedas do BRIC. Os títulos europeus também correm o risco de perder valor internacional.
Minha conclusão é que o modo antigo de integração internacional é um resquício de antigas promessas feitas no pós-guerra. Tornou-se abusivo, em vez de apoiar o investimento de capital, a infraestrutura pública e a melhoria da qualidade de vida. A era da “livre circulação de capitais” e da criação de crédito e de reservas internacionais pelos bancos centrais está terminando, dando lugar a uma situação de “almoço grátis” para grandes emitentes de moedas.
Eu gostaria de situar o tópico deste seminário, “Governança Global”, no contexto do controle global, pois nisso consiste a governança hoje em dia, basicamente. A palavra “governança” vem do grego kyber, que significa “pilotar.” A questão é: em que direção está navegando a economia mundial? Qual a meta?
Isso depende de quem tenha o leme nas mãos. Quase sempre, têm sido as economias mais poderosas as que pilotam o mundo ao longo de rotas que facilitam a transferência de renda e propriedade para elas mesmas. Essas transferências ocorreram desde o Império Romano e durante toda a história da Europa moderna, principalmente sob a forma de conquistas militares e tributos. Os conquistadores normandos transformaram-se numa aristocracia agrária hereditária que extraía pagamentos pelo uso da terra, da mesma forma como fizeram os conquistadores nórdicos da França e de outros países. Mais tarde, a Europa usou a colonização para se apropriar dos recursos do Novo Mundo, da África e da Ásia.
Hoje em dia, a manipulação financeira desempenha o mesmo papel que a conquista militar no passado. Seu objetivo ainda é controlar a terra, a infraestrutura básica e o excedente econômico – e também ganhar o controle das poupanças nacionais, utilizando, para isso, os bancos comerciais e as políticas dos bancos centrais. Essa conquista financeira é alcançada pacificamente (e até voluntariamente, da parte dos conquistados), ao invés de por meios militares, mas o efeito é semelhante. Economias endividadas são como países derrotados. Seus excedentes são transferidos para o exterior por vias financeiras. Os países devedores perdem a soberania sobre sua política econômica, financeira e fiscal e são obrigados, em última instância, a vender a infraestrutura pública para investidores estrangeiros – que transformam as tarifas moderadas até então cobradas do público em taxas de “pedágio” extrativas (“renda econômica”).
Há uma grande exceção à dinâmica do controle por credores: os Estados Unidos são a maior economia devedora, embora mobilizem seu poder de credor para privatizar os setores públicos de outros devedores evocando o Consenso de Washington.
O resultado é um padrão duplo nas finanças internacionais. Os Estados Unidos são o único país do mundo que não tem limites para a emissão de sua própria moeda (dívida do Tesouro) e de créditos bancários internacionais – pelos quais pagam uma taxa de juros muito menor que a de qualquer outro país – e que não dispõe de meios para pagar sua dívida num futuro previsível.
Esse padrão duplo transformou a natureza do dinheiro no mundo, o balanço de pagamentos e o significado de “ingressos de capital.” Se os créditos em dólares (ou em ienes) podem ser criados “livremente” sem qualquer restrição – diferentemente do que ocorria durante a vigência do padrão ouro, quando saídas de ouro forçavam os países a aumentar as taxas de juros nacionais –, então qualquer economia pode criar seu próprio crédito nos teclados de seus próprios computadores. Com isso, as entradas de capital não mais significam a provisão de recursos. Seu objetivo e seu efeito são simplesmente extrair juros e pedágio econômico (rent).
Esta é a lição mais importante para o Brasil. A natureza do próprio dinheiro sofreu uma transformação. Já não é mais um ativo sob a forma de barras de ouro ou de prata criado pelo trabalho. É dívida.
O dinheiro internacional – as reservas dos bancos centrais – transforma-se, sobretudo, em dívida do Tesouro americano, enquanto o dinheiro dos bancos assume a forma de dívidas privadas – dívidas de hipotecas, dívidas empresariais (progressivamente utilizadas para alavancar a tomada de controles acionários) e até mesmo empréstimos destinados a financiar derivativos especulativos e apostas no mercado de câmbio.
O privilégio do sistema bancário internacional de criar crédito com alguns cliques no teclado de um computador, sem limites fixados por um balanço de pagamentos ou por algum instrumento regulatório público, é uma forma de rent seeking. Isso levanta uma questão de política: deve-se deixar em mãos privadas esse privilégio de criar um “almoço grátis” que rende juros, ou deve-se tratá-lo como um monopólio público?
Os economistas clássicos recomendavam enfaticamente que os ativos geradores de rendimentos (rent) fossem mantidos no domínio público, onde suas remunerações constituiriam a fonte natural da receita pública e possibilitariam a prestação de serviços públicos básicos para as populações a preços mínimos. Em vez disso, cresceu tremendamente a privatização dessas fontes de “pedágios” econômicos – receitas que não têm um custo de produção correspondente.
Tudo isso resultou, em grande parte, da decisão tomada pelos Estados Unidos em 1971 de romper o vínculo entre o dólar e o ouro. A troca do padrão ouro pelo padrão das letras do Tesouro americano deixou os bancos centrais de outros países sem nenhuma alternativa de acumulação de reservas que não fossem os empréstimos feitos ao Tesouro dos Estados Unidos. Essa mudança permitiu que os Estados Unidos transferissem a outros países a tarefa de financiar os déficits do balanço de pagamentos americano.
Isso também garantiu uma “carona” militar permanente desde 1951, quando a Guerra da Coreia forçou o dólar a uma posição deficitária. Durante as décadas de 1950 e 60, os gastos militares dos Estados Unidos no exterior alcançaram o equivalente ao total do déficit do balanço de pagamentos do país. O setor privado esteve praticamente equilibrado durante essas décadas – enquanto a “ajuda” internacional norte-americana gerava, de fato, um superávit no balanço de pagamentos, já que as “ajudas externas” eram condicionadas à compra de bens e serviços americanos.
Enquanto outros países com déficits comerciais e do balanço de pagamentos são forçados a aumentar as taxas de juros para estabilizar suas moedas, os Estados Unidos baixaram suas taxas. Isso aumentou a “taxa de capitalização” de suas rendas fundiárias e dos lucros empresariais, permitindo que os bancos aumentassem os empréstimos utilizando garantias supervalorizadas.
As propriedades valem o que quer que os bancos se disponham a emprestar aos que querem comprá-las, e por isso os Estados Unidos têm conseguido utilizar uma “carona” propiciada pelo padrão-dólar para sobrecarregar sua economia com um excesso de endividamento sem precedentes – um excesso que tradicionalmente só penalizava países envolvidos em guerras no exterior ou sobrecarregados com pagamentos de reparações de guerra. Esse é o “efeito bumerangue” autodestrutivo, não previsto, do padrão letras-do-tesouro.
Esta é uma lição prática para o Brasil aprender. Hoje, vocês estão sendo beneficiados por uma bonança em seu balanço de pagamentos porque investidores e bancos estrangeiros estão criando crédito para emprestar ao Brasil e tomando como garantia os bens imobiliários, os recursos naturais e a indústria do país. O objetivo desses bancos é capturar o superávit econômico brasileiro sob a forma de pagamentos de juros e remessas de lucros ao exterior.
Mas por que o Brasil desejaria (ou requereria) essas “entradas de capital” que extraem juros, rendas (rents) e lucros simplesmente como um retorno de “créditos criados nos teclados de computadores”? Por que o Brasil não poderia ele mesmo gerar esses recursos internamente? No mundo de hoje, nenhum país necessita de crédito vindo do exterior para cobrir gastos internos em sua própria moeda. O objetivo do Brasil deveria ser evitar que credores estrangeiros capitalizem o superávit econômico brasileiro e o transformem em serviços da dívida e outros pagamentos, ou seja, que façam do país uma “economia de pedágio”, ou rentier.
A melhor maneira de evitar esse destino vem sendo descrita desde o tempo dos fisiocratas franceses e Adam Smith, passando por John Stuart Mill e os reformadores da Era Progressista, dos Estados Unidos à Europa: dar um fim aos privilégios especiais herdados das conquistas militares medievais europeias (privatização das rendas fundiárias) e coletar renda rentier como base fiscal, evitando que seja privatizada e capitalizada como empréstimos bancários. Esta política utilizaria impostos sobre recursos e renda (rent) para evitar a taxação do trabalho e da indústria. Isso baixaria o custo de vida e o custo de fazer negócios, removendo a carga fiscal e impedindo o aumento dos preços de moradias e bens imóveis. E essa é a maneira mais eficaz de tornar mais competitivas as economias no mundo de hoje.
O sistema americano de economia política no século 19 era baseado na percepção de que trabalho muito bem remunerado é trabalho mais produtivo. A chave para a competitividade internacional é, portanto, aumentar os salários e os padrões de vida, em vez de reduzi-los. Isso é especialmente verdadeiro no caso do Brasil, dada sua necessidade de melhorar as condições de sua população por meio de melhores sistemas de educação, saúde e apoio social. Se for para elevar o investimento em capital tangível e a qualidade de vida, o país precisa taxar o “almoço grátis” sob forma de renda proveniente da terra (land rent), renda proveniente de recursos e renda de monopólios, bem como os inúmeros encargos financeiros rentier que transformam o excedente em um overheadeconomicamente desnecessário. O Brasil precisa usar seu excedente para investir em formação de capital e infraestrutura pública.
Em contraste com essa recomendação de política, a característica marcante do nosso tempo é a financialização – a capitalização do excedente econômico (fluxo de caixa das empresas, renda proveniente de imóveis, e renda pessoal num nível muito acima do custo de vida básico) em pagamentos de juros sobre empréstimos bancários. A riqueza das nações é calculada da perspectiva dos banqueiros, ou seja, como o fluxo de renda que pode ser capitalizado nesses empréstimos. Na prática, isso significa transformar o excedente de renda em serviço da dívida.
Isso está muito longe do que Adam Smith escreveu em A Riqueza das Nações. Mas é esse, de fato, o plano do departamento de marketing dos bancos para suas operações internacionais. O “modo de olhar dos banqueiros” vê qualquer fluxo de capital como potencialmente disponível para ser usado no pagamento de juros. Para eles, idealmente, todo o superávit pode ser transformado em serviço da dívida. Renda líquida de propriedades imobiliárias, fluxo de caixa de empresas [ebitda – ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização], renda pessoal acima de gastos básicos, e receitas líquidas de impostos, tudo isso pode ser capitalizado, e o limite é definido pelos montantes que os bancos queiram emprestar. Menores taxas de juros, menores valores exigidos como sinal, prazos mais longos de amortização e até mesmo empréstimos fraudulentos e imprudentes aumentam, assim, a “taxa de capitalização” dessas receitas. Isso é aplaudido como “criação de riqueza” financeira – mas é, de fato, uma inflação do preço dos ativos alavancada por dívidas e que deixa um resíduo de dívida, em vez de formação de capital tangível em outros meios de produção.
O limite dessa política é atingido quando todo o superávit – o total da renda extraída dos imóveis, o fluxo de caixa das empresas e a capacidade de gastos públicos (e, desde 2008-09, a capacidade do governo de monetizar socorros financeiros) – se transforma num fluxo de serviços da dívida. A essa altura, a economia já estará totalmente “financializada.” Não sobra nenhuma receita para nada, e a economia terá de encolher.
O FMI e o Banco Mundial não são reformáveis
O documento fala de “reformar” o FMI, o Banco Mundial e até mesmo as Nações Unidas. Não acredito que esta seja uma esperança realista. Como analisei em Super-Imperialismo (1972), o Banco Mundial e o FMI estão comprometidos com uma filosofia econômica destrutiva.
Tomemos o caso do desenvolvimento agrícola. O Banco Mundial só tem autorização para conceder empréstimos em moeda estrangeira se forem destinados a aumentar as exportações. Em conformidade com isso, seus empréstimos têm ido para estradas e infraestrutura de exportação, não para desenvolver as economias dos países. O resultado foi uma mudança nos padrões agrícolas do Terceiro Mundo, levando os países a deixar de lado a produção de grãos para alimentar suas populações e, em vez disso, privilegiar grandes empreendimentos agrícolas exportadores.
Com isso, a excessiva oferta de produtos agrícolas por esses países nos mercados mundiais deteriorou os termos de troca do Terceiro Mundo, permitindo, simultaneamente, que os Estados Unidos e a Europa se tornassem importantes exportadores de grãos. Assim, os países do Norte beneficiam-se do aumento dos preços de seus grãos e reduzem os preços de suas importações, na medida em que pressões políticas nos Estados Unidos opõem-se à reforma agrária nos países do Terceiro Mundo, preferindo fortalecer a grande agricultura exportadora (que é propriedade de estrangeiros).
Esse padrão de comércio beneficia os centros industriais e agrícolas, ao mesmo tempo em que leva a periferia importadora de alimentos à dependência de alimentos e de empréstimos – uma situação definida por um simpático eufemismo burocrático: “interdependência”.
O resultante dreno de recursos para pagar credores e proprietários absenteístas obriga os países periféricos a serem devedores. Isso permite que as nações credoras os forcem a “equilibrar seus orçamentos” e a liquidar seus patrimônios públicos. Os novos compradores extraem renda econômica cobrando pelo uso de patrimônios até então públicos – agora que os empréstimos iniciais para financiar esses projetos já foram pagos. Para piorar ainda mais a situação, a compra desses ativos com créditos (propiciados por bancos estrangeiros) permite que os investidores dos Estados Unidos e da Europa “debitem” sua receita sob a forma de juros que podem ser deduzidos. Assim, esses juros, bem como a renda econômica, são transferidos para o exterior sem pagar impostos.
A reforma fiscal e a financeira devem caminhar juntas para criar uma economia mais “realista” e estável
O documento preparado para esta conferência fala do crescimento da população do Terceiro Mundo como afetando a “importância relativa dos países desenvolvidos.” No passado, a população certamente constituía uma vantagem militar, além de fornecer mão de obra para a produção. Mas hoje são as finanças que detêm o controle e a dominação, não os exércitos.
As nações líderes estão dispostas a ver crescerem o Brasil e outros países do BRIC, desde que seus interesses rentier possam capturar o superávit econômico (sob a forma de serviço da dívida – juros, amortizações e taxas) e as rendas monopolistas (sob a forma de “direitos de pedágio” sobre estradas e outras obras de infraestrutura sendo privatizadas). Elas buscam fazer com que essas capturas sejam “livres” de taxação, demandando a isenção de impostos sobre juros e outras taxas tecnicamente desnecessárias (como a de depreciação, por exemplo) e também a aceitação de “taxas de administração” arbitrárias e de preços de transferência artificialmente baixos, no caso de exportações. Depois de usados todos esses estratagemas, sobra pouca renda líquida para ser declarada e taxada.
Para manter o monopólio de criação de créditos em mãos privadas, as nações credoras demandam que os governos não usem seus bancos centrais para fazer o que os bancos centrais em todo o mundo foram originalmente criados para fazer: financiar os déficits públicos e a base nacional de crédito. O pretexto é que o financiamento dos déficits orçamentários públicos pelos bancos centrais é uma prática inflacionária. Mas não é mais inflacionário do que permitir que os bancos centrais criem crédito com seus próprios computadores!
O Banco Central europeu se impôs uma política financeira autodestrutiva ao insistir em que os governos tomem empréstimos somente em bancos comerciais e em outros financiadores privados. Para piorar ainda mais a situação, as filiais de bancos estrangeiros devem receber o privilégio de criar crédito em moeda nacional para que possam criar seu próprio crédito bancário eletrônico e receber o serviço da dívida interna.
A demanda paralela por “orçamentos equilibrados” é um eufemismo para liquidar o patrimônio público, cortar as aposentadorias dos trabalhadores e os gastos públicos com educação, saúde e outras pré-condições básicas para o aumento da produtividade do trabalho. Felizmente, essa política deflacionária não pode ser bem sucedida se os outros países tomarem providências para se salvar. O planejamento da austeridade exige o oposto das políticas keynesianas seguidas pelos Estados Unidos e por outras nações líderes.
Uma política fiscal que favoreça a alavancagem de dívidas, ao invés de investimentos de capital, destrói tanto o centro quanto a periferia. A Europa e os Estados Unidos estão permitindo que a dinâmica financeira (“a mágica dos juros compostos”) encolha suas próprias economias! Se continuar a atual tendência de dívida-deflação, as principais nações credoras acabarão por sujeitar-se à escravidão por dívida. É para evitar isso que o movimento trabalhista europeu está planejando para 28 de setembro de 2010 uma greve geral contra os planos de austeridade destinados a rebaixar a níveis anteriores os padrões de vida conquistados.
Essas tendências financeiras levantam a questão de se a “interdependência” – uma palavra que aparece na primeira sentença da brochura desta reunião – implica concordância com o estilo neoliberal de globalização. Existe uma tendência a ver isso como desejável em si mesmo, como se fosse um acordo amigável e em benefício mútuo. Mas, no mundo de hoje, isso implica dependência: dependência alimentar, dependência militar e dependência sob a forma de endividamento. O Consenso de Washington sendo promovido pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e pela ajuda bilateral norte-americana tem como objetivo reforçar esses três modos de dependência. O resultado não é um movimento em direção ao globalismo multilateral benéfico para todos, mas sim um sistema extrativo que reforça a hegemonia financeira e militar norte-americana.
A importância da ideologia econômica para promover um recomeço
Em vista do que foi dito acima, eu acredito que hoje seja necessário um rompimento com o passado financeiro, mais do que apenas uma “revisão da governança global.” A revisão de estruturas existentes tende a ser meramente marginal, e não estrutural – e o que se requer é uma mudança de estrutura.
Construir novas bases substituindo velhas instituições e começando novamente é mais fácil do que tentar modificar instituições ruins e quadros de pessoal comprometidos com políticas do passado. Foi esse o caminho seguido pelos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão. Os republicanos que então chegaram ao poder buscaram promover uma alternativa à doutrina britânica de livre comércio que era ensinada nas faculdades de maior prestígio, como Harvard, Yale e Princeton, doutrina que se opunha a tarifas protecionistas, a um banco nacional e ao investimento público em infraestrutura. A fim de prover uma lógica econômica para seu novo programa, os republicanos fundaram novas faculdades (construídas em terras doadas pelo governo) e escolas de administração de negócios nas quais era ensinada a doutrina que iria levar os Estados Unidos à liderança mundial, baseada no protecionismo e na tecnologia.
Atualmente, o fator mais importante da força econômica do Brasil e de outros países “novos” é que vocês ainda não estão tão oprimidos por dívidas, como é o caso da América do Norte e da Europa. É verdade que suas vantagens incluem o tamanho da população e os recursos naturais. Mas vocês sempre tiveram isso. O Brasil e seus companheiros do BRIC são a parte mais importante da economia global que ainda não se curvou financeiramente ao peso do serviço da dívida. Os banqueiros, portanto, observam vocês como países que ainda não estão “endividados até o pescoço.” Vocês têm um superávit econômico disponível, ainda não comprometido com o serviço da dívida.
O maior problema econômico desses países “novos” é descobrir a forma de não sucumbir aos compromissos da dívida – que se transformaram em obstáculo ao crescimento do Norte. A solução precisa ser encontrada numa alternativa à ideologia fiscal e financeira neoliberal promovida por instituições internacionais; não basta uma mera revisão.
Os quatro objetivos citados para debate aqui
Sob o eufemismo de “orçamentos equilibrados,” a austeridade que hoje se exige dos países do Terceiro Mundo tem como objetivo evitar que seus superávits econômicos sejam utilizados para aumentar salários e melhorar os padrões de vida. No que se refere ao ponto 1 – globalização e mercados de trabalho -, essa política é autodestrutiva. Ela impede o aumento da produtividade e ameaça sufocar os mercados domésticos ao transferir o superávit para os setores financeiro, de seguros e imobiliário (FIRE, nas iniciais em inglês) sob a forma de serviço da dívida e extração de pedágio para remunerar rentiers.
No que se refere ao ponto 2 – novos indicadores de desenvolvimento -, esses são de fato necessários para substituir os atuais, limitados à contabilização de componentes do PIB. O problema é que as categorias utilizadas em qualquer esquema de contabilidade, bem como a forma como são organizadas, derivam da teoria econômica – e isso precisa ser ajustado.
A doutrina clássica dividia as economias em duas partes: o setor de produção e consumo (“Economia 1”, que os livros didáticos chamam de “economia real”) e o setor extrativo ou “improdutivo”, que inclui finanças, seguros e imóveis (“Economia 2”). O maior defeito do modelo de contabilidade do PIB é considerar que esses três componentes do FIRE geram “produtos” de valor igual ao que os rentiers recebem (isto é, que extraem) da economia “produtiva”. O resultado é um formato de PIB pró-rentier, não uma descrição da realidade econômica – e, sem dúvida, não um guia para a ação governamental. Ao deixar de distinguir entre riqueza e custos indiretos, entre o produto e as reivindicações sobre o produto, esse sistema contábil nega a definição clássica de renda econômica como o valor que ultrapassa o preço de mercado e que excede o custo necessário de produção. A prestação de serviços privatizados a preços que ultrapassam os custos necessários de produção deveria justificadamente ser tratada como pagamento de transferência, e não como produto.
Os dois primeiros tópicos em discussão aqui – (1) uma política de austeridade e (2) um mapa estatístico da economia que representa o mundo tal como visto com olhos de banqueiros – reforçam o terceiro: (3) uma política de desenvolvimento insustentável. Dívidas que crescem a níveis exponenciais (“a mágica dos juros compostos”) não são sustentáveis porque a tentativa de pagá-las empobrece a população.
A essa altura, já deve estar clara a razão pela qual economias “financializadas” se tornaram menos competitivas. No mundo de hoje, o preço do trabalho é composto, em grande parte, por pagamentos ao setor FIRE, em vez de ser calculado para a compra de alimentos e bens de consumo como ocorria no século XIX, quando foi elaborada a teoria do comércio. Eu atribuo o déficit comercial americano ao fato de que os trabalhadores industriais tipicamente gastam até 40% de seus rendimentos com habitação (seja aluguel ou amortização de dívida hipotecária), 15% com outras dívidas (juros e taxas de cartões de crédito, financiamento de automóveis, empréstimos educacionais etc.), 11% com descontos em folha para financiar a seguridade social e o Medicare, e outros 15% com outros impostos (de renda e indiretos).
Isso nos leva ao tópico mais amplo (4) da governança global. Quem estabelecerá as regras? E no interesse de quem deverão ser estabelecidas? Ou, para falar em termos do conflito atual mais recente, “austeridade para quem?” Será que os pagamentos de dívidas imobiliárias e de outras dívidas serão ajustados à capacidade de pagamento dos devedores? Se forem, os bancos e os 10% mais ricos da população que mantêm no vermelho os restantes 90% terão de perder algumas das vantagens financeiras que lhes permitem reduzir a economia a um estado de servidão. Mas, se o valor nominal das dívidas não for reduzido, o resultado será a deflação da dívida.
Parece-me óbvio que a reforma financeira é necessária. E uma reforma financeira exige uma reforma fiscal, porque a parte que os cobradores de impostos deixarem de arrecadar ficará disponível (“livre”) para ser destinada ao pagamento de juros. Impostos mais baixos sobre rendas deixam mais receita disponível para ser emprestada a compradores e aumentar os preços do crédito.
Atualmente, os sistemas fiscais de quase todos os países favorecem o financiamento de dívidas ao permitir que juros e taxas financeiras sejam deduzíveis dos impostos, ao passo que dividendos e outras rendas devem ser pagos depois dos impostos. Isso vai contra a lógica de Saint-Simon e de outros reformadores do século XIX que buscavam libertar os mercados do endividamento excessivo, e não libertar banqueiros e financistas de regulamentações e impostos.
O mundo atual está pagando um alto preço por sua reação – patrocinada pelos rentiers – contra as economias clássicas. Essa reação desviou a atenção do fato de que as economias sofrem um aumento crescente do que J.S.Mill chamou de renda não merecida e incrementos não merecidos, que assumem a forma de maiores rendas fundiárias e elevação do preço da terra. “A extração de rendas” (rent) é o plano de negócio dos privatizadores da infraestrutura pública e de monopólios naturais – e de seus apoiadores financeiros que buscam fornecer empréstimos para aquisições acionárias. A tragédia de nossa época é que a maior parte do crédito é concedida para aproveitar oportunidades de extração de rendas e não para a formação de capital produtivo. Os bancos preferem emprestar tendo como garantia propriedades já existentes – imóveis ou empresas –, em vez de financiar a formação tangível de novos capitais. Isso cria a ameaça de a globalização assumir um caráter corrosivo, ao invés de tornar-se um sistema de ganhos mútuos.
O lema neoliberal de Margaret Thatcher – TINA, “There Is No Alternative”(“Não existe alternativa”) – ignora a alternativa defendida por duzentos anos de pensamento econômico clássico, desde Adam Smith e os Fisiocratas, passando por John Stuart Mill e até por Winston Churchill: basear o sistema de impostos na renda proveniente da terra (land rent) de modo a manter baixos os custos de moradia (e, em consequência, o custo de vida dos trabalhadores), ao invés de taxar o trabalho e, assim, aumentar o seu custo. A Era Progressista tinha como objetivo manter no domínio público os monopólios naturais como transporte, comunicação e até mesmo bancos, ao invés de permitir que proprietários privados os comprassem e coletassem rendas econômicas, deslocando o peso dos impostos para o trabalho, a indústria e a agricultura.
Felizmente, existe uma alternativa. A pobreza e o encolhimento da economia não são necessários. Entretanto, dada a “visão de mundo de banqueiros” sendo promovida pelo FMI, pelo Banco Mundial e pela maioria dos economistas mais importantes, sugiro que a tarefa de vocês seja livrar-se da globalização no atual formato “financializado”. Não permitam que estrangeiros comprem seus ativos com crédito “criado em computadores” dos quais vocês não precisam. Preparem-se para ser independentes e resistir a uma “coordenação global” que não marcha numa direção positiva.
O perigo que enfrentam as economias atuais é a crescente pressão para reduzir os padrões de vida, os investimentos de capital e os gastos com infraestrutura a fim de que os recursos sejam usados para pagar dívidas exponencialmente crescentes – tanto privadas como públicas. Algo tem de ser sacrificado. Ou as dívidas terão de ser perdoadas – ou pelo menos reduzidas e ajustadas à capacidade de pagamento – ou então as economias encolherão e sofrerão ondas de execuções hipotecárias e de polarização financeira entre credores e devedores.
O problema fiscal é parte integrante desse problema financeiro. Os déficits orçamentários atuais são resultantes de não se taxar terras e monopólios privatizados – e de se sobrecarregar o trabalho produtivo e a indústria com um imposto regressivo. A renda econômica que o coletor de impostos deixa de cobrar fica “liberada” para ser comprometida com os bancos – que estão sobrecarregando com dívidas as economias.
A questão mais importante desta reunião é: o que o Brasil deve fazer com seu excedente econômico? Investirá em meios de produção para elevar os padrões de vida da nação? Ou renunciará a ele, colocando-o à disposição dos interesses financeiros, tanto nacionais quanto internacionais, sob a forma de juros e extração de rendas?
O mundo de hoje enfrenta uma escolha entre a política econômica clássica e a do neoliberalismo. O que está em jogo é o conceito de mercados livres. Devem esses mercados livrar-se de monopólios e privilégios especiais, mantendo no domínio público a riqueza natural e as rendas do tipo “almoço grátis” (sem elevar os preços de imóveis e matérias-primas, e de monopólios naturais), liberando-as para investimentos que reduzem o custo de vida e o custo de fazer negócios? Esse era o objetivo da luta política dos reformadores políticos e econômicos clássicos nos séculos XVIII e XIX.
Os neoliberais advogam a política oposta. Eles definem “mercado livre” como um em que os rentiers têm liberdade para extrair rendas e juros; para privatizar o domínio público e transformá-lo numa “praça de pedágios”, cobrando pelo uso de estradas e de outras infraestruturas básicas; para sobrecarregar as “taxas de uso” com encargos financeiros economicamente desnecessários, salários exorbitantes e propinas pagas a apropriadores absenteístas e estrangeiros.
Assim, isso nos leva de volta à questão inicial: a privatização do domínio público com base no crédito (incorporando o sobreendividamento) e na financialização da economia é semelhante, em seus efeitos, a uma derrota militar. Para se defenderem, os países do BRIC devem isolar-se do processo global de criação de dívidas.
O “diálogo” advogado por esta conferência, relativo a regras para uma “nova governança global”, dificilmente conseguirá chegar a um consenso positivo num contexto em que os Estados Unidos e a União Europeia, o Banco Mundial e o FMI estão demandando austeridade para reverter os ganhos obtidos pelo trabalho desde a Segunda Guerra Mundial. O que eles demandam é um sacrifício da Seguridade Social do trabalho e dos fundos de pensão, numa vã tentativa de continuar com o debt overhang que se desenvolveu como consequência inevitável – mas antinatural – da ideologia fiscal e financeira da geração passada.
(*) Michael Hudson é ex-economista de Wall Street e atualmente um Pesquisador destacado na Universidade do Missouri, Kansas City (UMKC), e presidente do Instituto para o estudo das tendências de longo prazo da economia (Institute for the Study of Long-Term Economic Trends ISLET). É autor de vários livros, incluindo Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (new ed., Pluto Press, 2002) [Super Imperialismo: A Estratégia Econômica do Império Ameicano] e Trade, Development and Foreign Debt: A History of Theories of Polarization v. Convergence in the World Economy. [Comércio, Desenvolvimento e Dívida Exerna: Uma História das Teorias da Polarização versus Convergência na Economia Mundial
*Publicado originalmente na Agência Carta Maior.