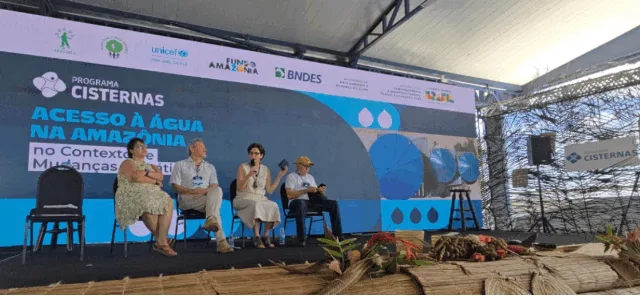[/media-credit]
[/media-credit]Atordoado, estiquei a mão para a primeira viatura que apareceu. O soldado pediu que eu entrasse no banco de trás. Rodamos por cerca de dez minutos pela região, e mais lentamente por uma travessa da Paulista onde os meninos costumavam dormir. Ao vê-los, o policial perguntou: “são estes?” Tive quase certeza de que eram do mesmo grupo dos meninos que acabavam de me abordar.
“Não”, falei, àquela altura mais calmo, e já pensando que um aparelho de MP3 não me valia a culpa que poderia carregar por ter jogado o menino aos leões. Os policiais, mais que educados comigo, pareciam sedentos para pegar os meninos que há muito causavam transtornos, segundo eles, naquela região. Só a lei os impedia…
Três anos mais tarde, e dois iPods depois, lembro desta história ao ver uma São Paulo em polvorosa por conta das ações de meninas que se organizam para cometer pequenos furtos nas redondezas da Vila Mariana – não muito longe, afinal, de um onde fui abordado. A “denúncia” ecoou por meio de reportagem dominical da tevê num fim de semana, e foi logo tratada como mais uma questão de segurança pública a assolar a vida da pobre e sofrida classe média que só se preocupa em nascer e morrer sem o sobressalto de ver levado o aparelho de som do carro que equipou a duras penas.
As reportagens que se seguiram por diversos veículos sobre “a gangue das meninas”, que promoveria arrastões pela capital, funcionaram como nitroglicerina pura para a ala raivosa da classe média que já não sabia o que fazer com os seus pedidos de redução da maioridade penal e higienização do centro expandido das grandes cidades. Reportagens que, de repente, deram fôlego para a defesa da velha necessidade de se mudar a lei (veja um exemplo clicando aqui). Numa semana em que a economia mundial se derretia por conta da irresponsabilidade de banqueiros e especuladores, em que a muito custo um ditador sírio fazia a segunda milésima vítima fatal e a fome na Somália deixava um saldo de 20 mil crianças mortas, só se falava em outra coisa nas rodas de conversas das famílias paulistanas.
O perigo, de repente, era a gangue das meninas. E a revolta era justamente causada pelo flagrante da mãe de uma delas, que lamentava que as meninas, recém-detidas, haviam sido ingênuas o suficiente para voltar ao local do crime onde já estavam “marcadas”. A instrução foi a brecha para que meio mundo tirasse o pó do discurso sobre a necessidade de se degolar a mãe, as filhas, o pai ausente, os assistentes sociais e a polícia “que não prende, não me protege, não faz jus aos impostos pagos” e toda a baboseira que se diz em tempos de pavor coletivo.
No auge da revolta, sobrou até para duas jornalistas do portal iG que, durante 40 dias – antes, portanto, da “denúncia” –, pesquisaram e conviveram com grupos de meninas para escrever sobre liderança feminina nas ruas. O pecado delas foi mostrar justamente quem eram as vítimas da história. E mostrar que essas vítimas – do racismo, do abandono, da pobreza, da violência física e sexual – tinham sonhos e vaidades como quaisquer outras garotas da idade. Foi o suficiente para serem acusadas, por leitores desavisados, de apelar para futilidade no intuito de proteger as “marginais”. Estes não foram capazes nem mesmo de esboçar um certo pesar ao ler o depoimento de uma das meninas sobre o alívio que sentia quando eventualmente conseguia simplesmente tomar banho – e afastar o nojinho que as pessoas sentiam ao vê-la, suja e estropiada.
A manifestação gratuita em defesa da violência revela o fosso de ignorância ainda existente entre a simples “pena” e a vulnerabilidade das ruas de São Paulo – ou qualquer grande metrópole. É o que impede que a situação seja entendida antes de ser enfrentada, como pedem os higienistas de plantão. E mostra como, no Brasil, cada avanço obtido a duras penas com o trabalho de educadores e assistentes sociais é seguido de um novo retrocesso a cada novo festival de clichês que se expressam na velha linha: “os defensores dos direitos humanos não se importam com os humanos direitos”.
Pois os mesmos “humanos direitos” são no mínimo incapazes de reverter seus preconceitos de classe em soluções de fato. Quando li e ouvi a execração pública da mãe que relevava o crime das filhas, logo lembrei do discurso recorrente dos pais que, ao verem os filhos flagrados em casos de agressões gratuitas (“Puxa, batemos na empregada achando que era prostituta”), acidentes provocados por racha de playboys, crimes passionais e outros delitos, saem berrando em bom português: “Meu filho não é marginal”.
Nas escolas onde estudei, os alunos mais problemáticos eram exatamente os que contavam com a proteção dos pais no dia seguinte à transgressão – do espancamento de um colega à ameaça ao professor, passando pela explosão de bombas-caseiras nos banheiros da escola paga. “Não me importo que você arrume briga na escola, desde que não apanhe”, costumavam instruir os pais antes de dar carta branca para os meninos. (Muitos, depois de um tempo, ainda contam com os pais para limpar a barra em caso de molecagem).
A indignação que casos assim ainda promovem na opinião pública pode não ser diferente daquela provocada pela chamada “gangue das meninas”. Mas o pedido para que as autoridades tomem providências passam longe do linchamento a que está sujeita a fração de moradores de rua que, sem advogado ou banho tomado, são diariamente reduzidos a lixo quando tratados simplesmente como “noias”, “menores”, “meliantes” ou “elementos”. Porque, no imaginário popular, uns são “sujeitos”, vítimas de deslize, e outros, “marginais” – e um perigo para a segurança de quem pagou a duras penas a prestação do toca-fitas do carro.
A mesma rua que abre as porta como abrigo às pequenas vítimas da violência doméstica diária é também o palco de crimes diários que não distinguem raça e cor. Nem o furto nem o estupro nem o homicídio cometido por quem não se importa de andar a mil na contramão e atropelar ciclistas ou pedestres com as bênçãos do papai que bancou a gasolina. Ou oferecer suborno a policiais para simplesmente não cumprir a lei.
No caso das ruas, a inclinação ao crime às portas da infância é, quase sempre, patrocinada por adultos que se valem da lei para escapar de uma eventual condenação de um mundo que já os condenou aos pontapés desde o nascimento. Mas a orientação para que os filhos se deem bem a qualquer custo é privilégio de classes: ocorre antes dos pequenos furtos pelas ruas e também debaixo das abas dos “humanos direitos”. A diferença é que, no Brasil, ninguém coloca a mão na carteira quando vê um desses pelas ruas.
* Publicado originalmente no site da revista Carta Capital.