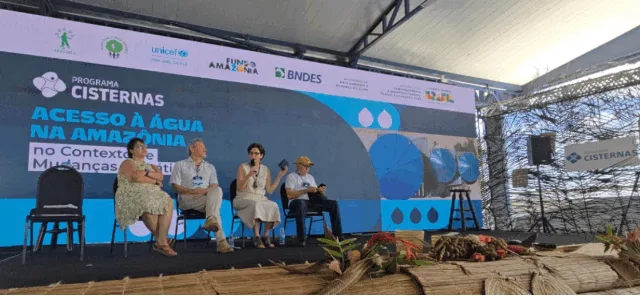Reza a lenda que nos anos 1950 a sociedade paulistana estava tão indignada com a zona da luz vermelha no centro da cidade, que a prefeitura resolveu agir e reprimir o exercício da mais antiga profissão do mundo. O efeito foi o de uma martelada num tomate maduro e as casas de prostituição se espalharam por toda a cidade. Inevitável lembrar o episódio na semana passada, quando a Polícia Militar invadiu a cracolândia numa suposta operação para desarticular o tráfico e encaminhar os dependentes do crack para também suposto tratamento. Não demorou para que os policiais que atuam na área muito apropriadamente comparassem a investida a um câncer metastático: o que era uma chaga exposta e localizada correria agora o risco de se espalhar por toda a cidade.
Reza a lenda que nos anos 1950 a sociedade paulistana estava tão indignada com a zona da luz vermelha no centro da cidade, que a prefeitura resolveu agir e reprimir o exercício da mais antiga profissão do mundo. O efeito foi o de uma martelada num tomate maduro e as casas de prostituição se espalharam por toda a cidade. Inevitável lembrar o episódio na semana passada, quando a Polícia Militar invadiu a cracolândia numa suposta operação para desarticular o tráfico e encaminhar os dependentes do crack para também suposto tratamento. Não demorou para que os policiais que atuam na área muito apropriadamente comparassem a investida a um câncer metastático: o que era uma chaga exposta e localizada correria agora o risco de se espalhar por toda a cidade.
Há uma verdade parcial nessa afirmação, pois a cidade já convive com diversas outras cracolândias, no Parque D. Pedro, nas margens da avenida Roberto Marinho, nos baixos de viadutos da avenida do Estado e do Minhocão. Isto sem falar nas casas e apartamentos espalhados pela cidade que oferecem pedra e local para dependentes, longe dos olhos escandalizados da sociedade, que prefere ignorar que a droga é problema de todos, a droga é democrática, ela invade qualquer casa, qualquer família, seja ela miserável ou pertencente à confortável classe média. Uma parcela considerável de dependentes químicos é levada à droga por conta de transtornos psiquiátricos e estes são democráticos, afetam ricos e pobres, indiscriminadamente; outra parcela é levada pelas condições de miseráveis, na busca de algum prazer, ilusório que seja.
A cracolândia cresceu de tal forma, porém, que se tornou impossível desviar os olhos e ignorá-la, como fazemos todos os dias com os anônimos que dormem nas calçadas da nobre avenida Paulista, nas entradas das estações de metrô, nos gramados que ladeiam as avenidas Rubem Berta e 23 de Maio. Uma parcela considerável dessas pessoas é de doentes psiquiátricos, abandonados pelas famílias e ignorados pelo poder público.
As cerca de duas mil pessoas que circulam pela cracolândia são também doentes, dependentes químicos, e, portanto, não são caso de polícia, são uma questão de saúde pública e assistência social. É inaceitável que, além de vítimas da droga, esses cidadãos brasileiros sejam vítimas da violência policial que assistimos nos últimos dias e a que a mídia e certas autoridades se referem eufemisticamente como “abordagem”, que na maioria das vezes consiste em aplicar uma “gravata”, chave-de-braço, imobilizar a pessoa e, às vezes, espancá-la. Ou atirar balas de borracha e usar gás lacrimogêneo para dispersá-las, tudo sob os olhares complacentes e coniventes da boa sociedade e da mídia, que, obviamente, trataria a situação de outro modo se esses doentes fossem portadores de câncer ou de alguma cardiopatia.
A desastrosa operação de “limpeza” da área – entregue a uma empresa privada para ser revitalizada – ficou a cargo de uma polícia que teoricamente está à caça dos traficantes para cortar o fluxo de crack e forçar os doentes, por meio de “dor e sofrimento”, a buscar tratamento, na voz de uma autoridade municipal da saúde. Dor e sofrimento já fazem parte do cotidiano dessas pessoas. Uma pesquisa da própria prefeitura mostra que 47% das pessoas que perambulam pela região fariam tratamento se lhes fosse oferecido. Ora, por que então o tratamento não foi oferecido sem que fosse necessário o emprego de força policial, obviamente despreparada para lidar com esse público?
Conta-se como vitória da operação a apreensão de 560 pedras de crack em uma semana. Ainda pela pesquisa da prefeitura, o usuário fuma em média 20 pedras por dia. Faça as contas. Isso mesmo: recolheu-se o suficiente para abastecer 28 pessoas num único dia. A maioria dos traficantes que circula por ali vende droga para sustentar o próprio consumo, são tão vítimas quanto os que compram sua mercadoria e, portanto, também deveria ser encaminhada para tratamento.
São Paulo não é a única metrópole do planeta a se ver às voltas com a epidemia de crack. Nova York, Los Angeles, Londres, Frankfurt, Toronto, Vancouver, Sydney, para citar algumas, também convivem com o problema há anos. Em nenhum desses locais, dependentes químicos foram espancados pela força policial ou internados compulsoriamente, como se quer fazer por aqui. Internação compulsória é exceção, e não norma. E esse, talvez, seja a pior consequência da operação desastrosa: boa parte da população, mesmo pessoas ditas libertárias e democráticas, hoje acredita que a solução para o drama do crack está no encaminhamento forçado do paciente para hospitais psiquiátricos e clínicas. Afinal, esse paciente não teria condições de decidir o que é melhor para si mesmo.
Em primeiro lugar, algumas estimativas – neste país onde não há números confiáveis sobre nada – chegam a falar em dois milhões de usuários de crack, isso sem contar alcoólicos e dependentes de outras drogas. Não há leitos para essa gente toda e nem profissionais habilitados: o Brasil tem cerca de 20 mil psiquiatras e a maioria das cidades não dispõe de nenhum, embora o crack esteja presente em 97% delas.
Mais que isso, a literatura médica mundial mostra que as internações compulsórias para tratamento de dependência química são ineficazes: de volta às mesmas condições de vida, sem acompanhamento psiquiátrico e apoio psicológico e social, o paciente volta para a droga. Mesmo entre os que buscam tratamento voluntariamente, as chances de sucesso estão longe dos 100% e a recuperação exige, ainda, terapia por longo período, inclusive para a família, outra grande vítima da dependência. Isto sem falar na reinserção social. Especialistas no cuidado de dependentes químicos são treinados para motivar o paciente a buscar tratamento – sem cassetetes e sem bombas de gás lacrimogêneo. O problema, em termos políticos e eleitoreiros, é que este é um trabalho de formiguinha, lento, difícil e que não produz imagens de impacto e tampouco desperta interesse midiático.
O crack é um problema complexo e problemas complexos exigem abordagens multidisciplinares e ação concertada – e não concorrente – de governos municipais, estaduais e federais e da sociedade para sua solução ou, pelo menos, administração. Um documento da Comunidade Europeia deixa claro o tamanho do problema quando compara o usuário de cocaína com o de crack. O de cocaína geralmente trabalha, tem família, tem rede social, está inserido em sua comunidade e, quando abusa da droga, tem para onde correr em busca de tratamento e para onde retornar em sua recuperação. O usuário de crack não: na maioria das vezes não tem moradia, perdeu os vínculos com família, não trabalha. Além do crack, muitos também são alcoólicos, uma porcentagem considerável é portadora de HIV, hepatites B e C, HPV, tuberculose, sífilis, gonorreia, além de ter problemas de pele, de coração e pulmonares, decorrentes do consumo da pedra, que queima a uma temperatura de 90 graus.
Qualquer ação destinada a atender os usuários de crack deveria envolver, primeiramente, assistência médica e as técnicas motivacionais usadas para convencimento do dependente para busca de tratamento. Especialistas defendem o atendimento ambulatorial, o que, neste caso, exigiria que esse paciente tivesse moradia, ação de assistência social para retomada de vínculos familiares e terapia familiar, além de assistência jurídica, especialmente no caso de menores e das mulheres grávidas.
Os Estados Unidos e diversos países europeus investiram também na redução de danos, na melhoria das condições de vida daqueles que não conseguem ou não querem abandonar o crack. Isto envolve as Drug Consumption Rooms ou narcossalas que, comprovadamente, reduzem o consumo; a distribuição de cachimbos de pirex, chicletes, protetores labiais e camisinhas; locais onde o usuário pode tomar banho, descansar e se alimentar fora das ruas e longe do acesso dos traficantes. A ideia é reduzir a demanda dessa população pelos serviços públicos de saúde e, sempre, a abordagem acolhedora no sentido da busca de tratamento, do convencimento. É também trabalho lento, polêmico, mas que tem se mostrado eficaz em diversos países.
E falta ainda nessa equação a tarefa árdua de combater o estigma que pesa e fere dependentes químicos e dependentes químicos em recuperação, o mais forte e devastador dentre os que atingem pacientes psiquiátricos no Brasil, segundo pesquisa recente da Janssen-Cilag. Dessa gente, a população quer distância, a maior possível.
Um tarimbado repórter policial postou em sua página de relacionamento que essas pessoas não só deveriam ser tratadas à força, como ser identificadas por datiloscopia e “obrigadas a tomar banho e cortar os cabelos” – e, talvez, em seguida, serem embarcadas em vagões de gado para Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen. O precedente da internação compulsória é assustador: hoje são os usuários de crack, amanhã pode ser o paciente de doença terminal que recusa tratamento. A parcela nem tão bem intencionada não teve pejo em postar nos sites de jornais e revistas que a destinação de R$ 4 bilhões para programas de prevenção e tratamento de dependentes anunciada pela presidente Dilma era “desperdício: deixa morrer”.
Nesses tempos em que vivemos, boa parte da população nem se importa com o destino daqueles que perambulam pela cracolândia, quer apenas que desapareçam de suas vistas. É gente sem eira nem beira, gente que perdeu a humanidade e se entregou ao vício, são menos que animais, pois até esses têm seus defensores. Cuidado. O crack não é exclusividade dos desvalidos. Ele já chegou à classe média. A única diferença é que quem tem algum dinheiro não fuma pedra no meio da rua, toma banho, corta cabelo, trabalha e pode morar na sua casa. (Envolverde)
* Ruth Helena Bellinghini é jornalista com experiência em diversos veículos de comunicação e especialista em ciência e saúde.