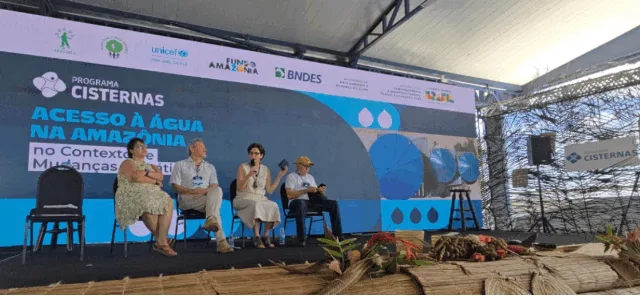Pesquisador da Unicamp, Sírio Possenti, explica as diferenças entre variação linguística e gramática que geram tantas polêmicas.
 [/media-credit]
[/media-credit]
Carta Fundamental: Em maio, a mídia condenou o livro Por Uma Vida Melhor, seus autores e o próprio Ministério por admitirem o “português errado”, sob o pretexto de alertar para o “preconceito linguístico”. No seu entendimento, tal conclusão é correta?
Sírio Possenti: O preconceito linguístico consistiria em discriminar alguém pelo fato de falar de maneira diferente. Pode acontecer em situações diversas. Por exemplo, não contratar um trabalhador pelo fato de ele ter um sotaque marcado – do interior paulista ou baiano, por exemplo – ou porque não usa variantes sintáticas cultas, mas apenas as populares (empregar concordâncias verbais ou nominais como “eles foi” ou “dez real”). Sendo bem conservador, diria que, em certos casos, uma decisão como essa seria mais compreensível do que em outros. Acho o fim do mundo que um contador ou um trabalhador braçal seja dispensado por tais critérios, mas compreenderia que uma empresa regional preferisse “relações públicas” que se caracterizassem como “do lugar”. A questão pode ser diferente também na escola. Não se pode exigir, nos primeiros anos de falantes oriundos de grupos populares, que dominem formas de falar com as quais têm pouquíssimo contato e, principalmente, que dominem a escrita padrão. Mas, se a escola for competente e os alunos tiverem interesse, deve-se exigir progressivamente o domínio do padrão. Uma pessoa pode ser vítima de preconceito também por razões “teóricas”. Por exemplo, ser considerada incapaz de pensar “direito” pelo fato de seguir outra gramática. Se isso fosse verdade, as pessoas só poderiam pensar em uma língua… Em resumo, o preconceito pode, sim, vitimar falantes “diferentes”. E os vitima todos os dias…
CF: O que propõem os linguistas quando afirmam que não existe o “português mais certo ou mais errado”?
SP: Os linguistas separam uma avaliação de fatos linguísticos considerando apenas as regras que regem qualquer variedade de qualquer língua e uma avaliação que a “sociedade” faz de cada uma dessas variedades. O exemplo do livro debatido é bom: considerando apenas os fatos, o que se ouve, verifica-se que formas como “os livro” e “dez real” seguem uma regra, isto é, são construções regulares: esta gramática marca com o “s” de plural apenas o primeiro elemento (se forem três ou quatro, isso dependerá de quais eles são: “os meus livro” é bem mais provável do que “os meu livro”; mas “meus livro verde” é previsível). O linguista também sabe que há outra gramática do português, que segue outra regra: marca com “s” todos os elementos da sequência: “os livros”, “os meus livros”, “meus livros verdes”. Para um linguista, o conceito de certo e errado não tem sentido (seria como um botânico achar que uma planta está errada). Para ele, a questão é quais são as regras em cada caso. E ele pode comparar esses dados com os de outras línguas. Verificará, por exemplo, que o inglês segue uma regra diferente, marcando apenas o nome, não importa o lugar dele na sequência: “the books” ou “the green and blue books” (cuja “tradução” literal seria “os verde e azul livros”). Em nenhuma variedade do português se diz “o ovos” ou “o livros”. Mas o linguista também sabe que a sociedade em que se fala esta língua faz uma avaliação das diferentes formas. Considera algumas delas erradas (e até feias) e outras corretas. Ele tentará compreender a que se deve essa avaliação. Quase sempre há uma explicação ligada aos grupos sociais (capital, cidade importante culturalmente, sede da corte, etc.) ou aos campos em que se fala ou escreve. A literatura aceita mais variedades do que a ciência. Os jornais aceitarão mais ou menos variedades, conforme se pretendam mais ou menos populares. As noções de certo e errado têm origem na sociedade, não na estrutura da língua. É certo o que uma comunidade considera certo. E esta avaliação muda historicamente.
CF: É papel da escola ensinar as diferenças do discurso oral e do escrito?
SP: É papel da escola, em algum momento, chamar a atenção para o fato de que há diferenças entre as diversas formas de falar e o que elas significam: pessoas urbanas não falam como as rurais, jovens não falam como idosos, mulheres não falam como homens. Um modo de apresentar-se como jovem é falar como um jovem. Outro, vestir-se como tal. Mas a escola não precisa ensinar algumas das formas de falar, porque as pessoas as aprendem ao natural. O que a escola precisa ensinar é fundamentalmente a escrita. O que ela faz pouco, a meu ver. Ensina-se de verdade a gramática da língua culta lendo e escrevendo, “corrigindo”. O livro que está na berlinda fala em adequação: escrever tem muito a ver com adequar a linguagem a cada tipo de texto. Num trabalho de biologia, não só se usa um léxico do ramo, como o texto se estrutura de forma específica, que é diferente da de uma narração, de um convite, de uma propaganda. O padrão é uma exigência da sociedade, em muitos casos, e a escola deve incluir práticas que levem o aluno a escrever como se espera em cada campo. Mas, para fazer isso, não é necessário tachar outras maneiras de falar de erradas ou de feias. Aliás, esse comportamento, mais do que revelar preconceito, revela ignorância do que seja uma língua.
CF: A maioria das pessoas entende a língua como a que a escola ensina ou a dos manuais do tipo “não erre mais”, que consideram as variantes como erros. No caso da língua portuguesa, este conceito se sustenta diante das mudanças pelas quais ela já passou?
SP: Manuais do tipo “não erre mais” são úteis, especialmente se os que vão escrever têm as dúvidas corretas. O problema é que, para ter dúvidas, uma pessoa, precisa desenvolver uma intuição um pouco refinada, conhecer um pouco do assunto (eu não tenho nenhuma dúvida sobre energia nuclear e células pluripotentes; nem sobre tucanos, na verdade). Assim, esses manuais não podem ser os substitutos das gramáticas ou dos ensaios que relatam pesquisas. Seria como alguém achar que sabe botânica porque tem rúcula e cebolinha na horta. Conhecer só esses manuais leva os “defensores” da língua que chamam de culta a cometerem os mesmos “erros” que estão criticando. Alexandre Garcia começou um comentário quase irado sobre o livro em questão assim: “quando eu TAVA na escola…”. Ou seja, ele abonou o livro que estava criticando. Só que, provavelmente, ele acha que falou “estava”.
CF: Quais são hoje os principais pontos de discordância em relação ao registro e à forma de a escola tratar essas duas línguas?
SP: Acho que há alguma confusão, que não precisaria existir. Bastaria que se aceitasse que as línguas não são uniformes, o que é um fato notório. Bastaria às pessoas se ouvirem. Em seguida, que se aceitasse que as diversas formas de falar não são erradas, são apenas diferentes, como se fossem outras línguas. Depois, é preciso decidir o que fazer com esses fatos. Há duas coisas que parecem óbvias. Se quisermos uma escola mais bem-sucedida, não é necessário ensinar as formas populares orais aos alunos. Eles já as conhecem. Diante dessas variedades, a gente deveria aprender a se maravilhar, o que aconteceria se soubéssemos analisá-las, como se aprende a analisar plantas ou animais. Deve-se ensinar a escrita padrão da única forma que funciona: conseguir que o aluno produza um texto e, a partir dele, por mais precário que seja ou pareça, reescrever até que ele fique adequado, correto e, se possível, elegante.
CF: Ao propor que ensinar que o modo como aprendizes e professores falam não é feio ou errado consolida-se o desconhecimento da norma culta?
SP: O que consolida o desconhecimento da norma culta é continuar fazendo o que se faz: considerar “errados” os que só falam diferente, ensinar uma gramática precária. E fazer exercícios que não fazem sentido. O que ensina é ler e escrever analisando o que se lê e se escreve. É fácil. E é barato.
CF: Afinal, deve-se ou não ensinar gramática na escola?
SP: Depende de como se ensina. Ensinar só faz sentido para conhecer que tipo de “bichos” são as línguas, como elas se organizam de fato, e não como deveriam se organizar; isto é etiqueta. Em cada ano se poderia eleger um (ou alguns) tipo de estrutura e dar atenção privilegiada a ela. Os alunos deveriam aprender a coletar dados, classificar, encontrar regularidades. Pode-se estudar a gramática da fala da região em que a escola está. Os professores poderiam ser linguistas curiosos: levar em conta como se fala na região em que são professores – até para saber o que “falta” ensinar. Se é para ensinar gramática apenas para que a conclusão dos alunos seja que eles não sabem português, confundindo, aliás, língua e gramática, seria melhor nem incluir no currículo.
* Publicado originalmente no suplemento Carta Fundamental, no site da revista Carta Capital.