Dicionário da Educação do Campo: ideias em disputa no campo da educação e da sociedade brasileira
“Diccionario, no eres / tumba, sepulcro, féretro, / túmulo, mausoleo, / sino preservación, / fuego escondido, / plantación de rubíes, / perpetuidad viviente / de la esencia, / granero del idioma.
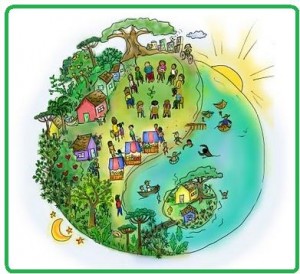
“Diccionario, no eres / tumba, sepulcro, féretro, / túmulo, mausoleo, /
sino preservación, / fuego escondido, / plantación de rubíes, / perpetuidad viviente /
de la esencia, / granero del idioma.” (Pablo Neruda)
Lançado em março deste ano, o Dicionário da Educação do Campo (Editora Expressão Popular e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/Fiocruz) é um marco no campo da educação brasileira, tanto por seu significado como pelo processo no qual foi produzido. Organizado por Roseli Caldart, Isabel Brasil, Paulo Alentejano e Gaudêncio Frigotto, esta obra de referência é resultado do esforço coletivo de 107 intelectuais comprometidos com a classe trabalhadora, seja na pesquisa acadêmica, seja na participação política. A publicação foi coordenada pela EPSJV/Fiocruz do Rio de Janeiro, e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Via Campesina, para definir claramente os principais conceitos que definem a Educação do Campo na perspectiva dos movimentos sociais camponeses. Em suas 778 páginas, os 113 verbetes apresentados em ordem alfabética facilitam a consulta de leitores leigos ou iniciantes dos cursos do ensino médio à pós-graduação, quanto dos próprios educadores das escolas do campo, até daqueles que já se encontram na militância social de diversos setores da classe trabalhadora e pesquisadores da educação.
O processo pelo qual foi produzido demonstra a grandeza da obra, pois não é resultado de uma iniciativa comercial ou acadêmica, mas sim de um engajamento na pesquisa científica, na luta pela educação pública e pela reforma agrária. Depois de uma experiência inicial com a elaboração do Dicionário da Educação Profissional em Saúde (2006), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio já havia criado uma metodologia que facilitou a produção deste segundo dicionário em um ano de trabalho, com a organização de oficinas, levantamento dos eixos já consagrados no debate sobre Educação do Campo (campo, educação, políticas públicas e direitos humanos), eleição dos conceitos, convite aos colaboradores, discussão dos textos dos verbetes e edição final.
Além do processo de produção coletiva desta obra engajada, o Dicionário se destaca pelo ineditismo do tratamento da Educação do Campo – atividade cultural e produtiva levada pelos camponeses no cotidiano da luta de classes – e também pela centralidade que dá a ele. Patinho feio das políticas públicas e da pesquisa educacional, a Educação do Campo ganha relevância ao ser analisada em profundidade na sua particularidade e na relação com o universal. Se o particular é a educação camponesa para o socialismo, o universal é a escola única do trabalho.
Tomando como referência a Ode ao Dicionário, de Pablo Neruda, não se trata de criar definições e dogmas como se o dicionário fosse um mausoléu, mas sim de revelar o “fogo escondido” de cada categoria em sua relação viva com a história e a realidade. Trata-se de um dicionário que traz o “fogo” do debate em cada verbete, anunciado por seus organizadores logo na apresentação: Agricultura Camponesa x Agronegócio, Reforma Agrária x Latifúndio, Pedagogia do Trabalho x Pedagogia do Capital.
Em Mitologias, Roland Barthes, discute o sentido político atribuído às palavras no texto Gramática Africana. Para o governo francês, colonizador da África, a palavra bando era utilizada para definir os africanos “fora da lei, rebeldes ou condenados de direito comum”. Mas, se o bando for francês, o governo atribui o sentido de comunidade. Da mesma forma, para a Educação do Campo ser tratada em sua especificidade e profundidade, é necessário desembaraçá-la de sentidos outros dados pela ideologia dominante da classe dominante. Por isto, o Dicionário da Educação do Campo é definitivo: organiza e apresenta os principais conceitos, seja do campo, da educação, das políticas públicas e dos direitos humanos, na perspectiva dos trabalhadores camponeses.
Esse procedimento de confrontação da ideologia da classe dominante pode ser melhor compreendido à luz da interpretação da A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels: “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. São, portanto ideias de sua dominação”. Assim, os capitalistas impõem as suas concepções de mundo como únicas e verdadeiras, servindo como falseamento da realidade. E, para tanto, seja na pesquisa científica, seja no embate político, não é possível definir categorias, conceitos, sem ter que se defrontar com a ideologia dominante. Assim, cada verbete desconstrói o sentido imposto pela classe dominante e apresenta o sentido de acordo com o ponto de vista da classe trabalhadora, em seu acúmulo histórico de pesquisa científica e de lutas.
Nessa discussão sobre a contribuição científica do Dicionário da Educação do Campo, cabe lembrar, ainda com base na A Ideologia Alemã (Marx e Engels), em Teses sobre Feuerbach, a questão do paradigma do materialismo histórico: “A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade do pensamento isolado da práxis – é uma questão puramente escolástica”. O Dicionário da Educação do Campo é resultado da práxis, se não fosse assim, não encontraríamos verbetes como Ciranda Infantil ou Escola Itinerante, por exemplo. No lugar da creche, de pequena quantidade nas cidades e praticamente inexistente no campo, os trabalhadores e trabalhadoras do MST criaram a Ciranda Infantil, bem como a Escola Itinerante que possibilitou a educação de milhares de crianças e adolescentes nos acampamentos. Não se trata apenas da criação de uma concepção de educação, os verbetes sintetizam a história da criação de uma educação de novo tipo, tanto para a realidade rural brasileira quanto para a educação de forma geral.
Além disso, podemos reconhecer essa nova perspectiva do materialismo histórico que avançou sobre as teses do materialismo grosseiro, como nos mostra Marx e Engels, principalmente no campo da educação: “A doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio educador deve ser educado. Ela deve, por isso, separar a sociedade em duas partes – uma das quais é colocada acima da sociedade”. O Dicionário da Educação do Campo carrega essa perspectiva dialética superadora, pois quem educa o educador é a classe trabalhadora numa perspectiva revolucionária. Sem isto, o professor será deformado pela ideologia dominante, travestida de científica, para uma educação rural de acordo com os preceitos da formação profissionalizante para o agronegócio e o neocolonialismo contemporâneo.
Dessa relação direta entre a produção de ideias e a realidade material, vemos, pela leitura dos verbetes, os trabalhadores do campo como produtores de novas representações sociais, conforme explicam Marx e Engels: “A produção de ideias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, aparecem aqui como emanação direta de seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como aparece na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, etc. de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias, etc., mas os homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde até chegar às suas formações mais amplas”.
Mas, quando essas representações sociais dos trabalhadores rurais são desqualificadas e criminalizadas pela classe dominante, compreendemos que a luta entre as ideias deve ser entendida de acordo com a perspectiva dialética, colocada em A Ideologia Alemã: “A consciência jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real. E se, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura, tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida, do mesmo modo por que a inversão dos objetos na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico”. Quer dizer, a dominação da classe capitalista sobre a classe trabalhadora, com seus instrumentos de dominação, como aparato repressivo, legislativo, imprensa, entre outros, só podem acabar com o final da dominação econômica, social, cultural e política.
Assim colocado, este Dicionário da Educação do Campo não chegou nas livrarias para discutir as suas ideias com a classe dominante, nem perder tempo em se explicar aos intelectuais orgânicos do capital na imprensa ou na academia, mas para preparar os trabalhadores do campo e da educação para uma formação coerente com a ideologia de sua classe, em conformação com sua missão histórica de libertação da humanidade do jugo do capital.
Tomando A Ideologia Alemã como referência do acerto de contas com o atraso da filosofia alemã, resultante de atraso econômico da Alemanha, poderíamos também fazer uma analogia com os defensores do neodesenvolvimentismo brasileiro, defendido por intelectuais do capital e por traidores da classe trabalhadora que muito têm confundido trabalhadores do campo, da cidade, e, principalmente da educação: “Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se ascende da terra ao céu. Ou, em outras palavras: não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos homens em carne em osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida”.
Nessa analogia, podemos ver a utilidade do Dicionário da Educação do Campo que, partindo da terra para o céu, mostra o sentido de realidade de cada uma das categorias apresentadas nos verbetes (Agroecologia, Agrotóxicos, Educação Corporativa, Educação Politécnica), como uma bússola que indica onde realmente está localizado o Norte e o Sul da nossa realidade social, política e educacional do campo.
Finalmente, observamos o caráter prático, além de teórico do Dicionário da Educação do Campo, inspirado pela concepção do materialismo histórico: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; mas o que importa é transformá-lo”. Sem pretensão, o coletivo de autores deu o primeiro pontapé para a formação de trabalhadores do campo, da cidade, estudantes, pesquisadores e professores sobre educação do campo. De posse desta bússola, cada leitor poderá empreender viagens a cada leitura de um verbete, que poderão se estender a novas terras com o auxílio das leituras recomendadas. Melhor ainda quando essas leituras forem compartilhadas no coletivo da sala de aula, do grupo de estudo, de um coletivo dos movimentos sociais, para o debate de ideias e para a transformação do mundo. Um momento para respirar, conhecer os conflitos no campo da educação e para refletir e fazer avançar a luta da educação do campo.
* Cecília Luedemann é jornalista e colaboradora do Setor de Educação do MST.
** Publicado originalmente no site Adital.




