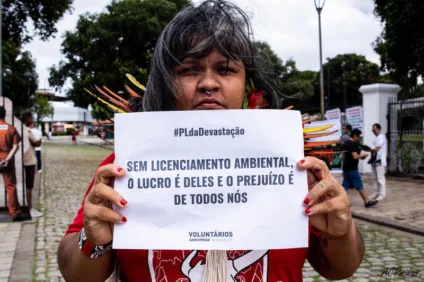“A democracia, no sentido forte do termo, é a realidade de um poder do povo que não pode jamais coincidir com uma forma de Estado.”
“A democracia, no sentido forte do termo, é a realidade de um poder do povo que não pode jamais coincidir com uma forma de Estado.”
Jacques Rancière, um dos principais filósofos contemporâneos, herdeiro do pensamento de maio de 1968, acaba de lançar, na França, Momentos Políticos, uma seleção de seus escritos dos últimos 30 anos sobre política. Ele acaba de conceder a El Público, da Espanha, esta entrevista, que a Fórum publica em português em primeira mão.
Estamos vivendo na Europa um “momento político”? Como o senhor descreveria este momento?
Prefiro dizer que estão dadas as condições para um momento assim, na medida em que nos encontramos numa situação na qual, a cada dia, se torna mais evidente que os Estados nacionais agem apenas como intermediários para impor aos povos as vontades de um poder interestatal, que é, por sua vez, altamente dependente dos poderes financeiros. Em toda a Europa, os governos, tanto de direita como de esquerda, aplicam o mesmo programa de destruição sistemática dos serviços públicos e de todas as formas de solidariedade e proteção social que garantiam um mínimo de igualdade no tecido social. Em todas as partes, então, revela-se a oposição brutal entre uma pequena oligarquia de financistas e políticos, e a massa do povo submetida a uma precariedade sistemática, despojada de seu poder de decisão, tal como revelado espetacularmente no referendo planejado e imediatamente anulado na Grécia. Portanto, estão dadas, de fato, as condições de um momento político, isto é, um cenário de manifestação popular contra o aparato de dominação. Mas para que esse momento exista, não é suficiente que se dê uma circunstância, sendo também necessário que esta seja reconhecida por forças suscetíveis de transformá-la numa demonstração, ao mesmo tempo intelectual e material, e de converter essa demonstração numa alavanca capaz de modificar o equilíbrio de forças, mudando a própria paisagem do perceptível e do pensável.
O que você acha do caso espanhol, em particular?
A Europa apresenta situações muito diferentes. A Espanha é, certamente, o país no qual a primeira condição foi cumprida da forma mais evidente: o movimento 15-M mostrou claramente a distância entre um poder real do povo e instituições chamadas democráticas, mas na verdade completamente entregues à oligarquia financeira internacional. Resta a segunda condição: a capacidade de transformar um protesto em uma força autônoma, não só representativa e independente do sistema estatal, mas também capaz de arrancar a vida pública das garras desse sistema. Na maioria dos países europeus, ainda estamos muito longe da primeira condição.
Os movimentos 15-M e Ocupe Wall Street são políticos?
Esses movimentos certamente respondem à ideia mais fundamental da política: o poder próprio daqueles que nenhum motivo particular destina ao exercício do poder, a manifestação de uma capacidade que é de todos e de qualquer um. E este poder se materializou de uma maneira que também está de acordo com esta ideia fundamental, afirmando esse poder do povo mediante uma subversão da distribuição normal dos espaços. Geralmente há espaços, como as ruas, destinados à circulação de pessoas e bens, e espaços públicos, como parlamentos ou ministérios, destinados à vida pública e ao tratamento de assuntos comuns. A política sempre se manifesta por meio de uma distorção dessa lógica.
O que deveríamos fazer com os partidos políticos atuais?
Os partidos políticos que conhecemos hoje são só aparatos destinados a tomar o poder. Um renascimento da política passa pela existência de organizações coletivas que se subtraiam a essa lógica, que definam seus objetivos e seus meios de ação independentemente das agendas estatais. “Independentemente” não significa “desinteressando-se de” ou “fingindo que essas agendas não existem”. Significa construir uma dinâmica própria, espaços de discussão e formas de circulação de informação, motivos e formas de ação que visem, em primeiro lugar, ao desenvolvimento de um poder autônomo de pensar e agir.
Em maio de 1968, as pessoas discutiam as ideias de Marx… Mas não parece haver nenhum filósofo no 15-M ou no OWS.
Até onde eu sei, ambos os movimentos se interessam pela filosofia. E é preciso lembrar a recomendação que os ocupantes da Sorbonne, em maio de 1968, deram ao filósofo que tinha vindo apoiar a causa: “Sartre, seja breve”. Quando uma inteligência coletiva se afirma no movimento, é hora de prescindir dos heróis filosóficos doadores de explicações ou slogans. Não se trata, na verdade, da presença ou da ausência dos filósofos. Trata-se da existência ou da inexistência de uma visão de mundo que estruture naturalmente a ação coletiva. Em maio de 1968, embora a forma do movimento estivesse afastada dos cânones da política marxista, a explicação marxista do mundo funcionava como um horizonte do movimento. Apesar de não serem marxistas, os militantes de maio situavam a sua ação no âmbito de uma visão histórica em que o sistema capitalista estava condenado a desaparecer sob os golpes de um movimento liderado por seu inimigo, a classe trabalhadora organizada. Os manifestantes de hoje já não possuem nem chão nem horizonte que dê validade histórica ao seu combate. Eles são, em primeiro lugar, indignados, pessoas que rejeitam a ordem existente sem poder considerar-se agentes de um processo histórico. E é isto que alguns aproveitam para denunciar interesseiramente, o seu idealismo ou o seu moralismo.
O senhor escreve que, durante os últimos 30 anos, vivemos uma contrarrevolução. Esta situação mudou com os movimentos populares?
Certamente, alguma coisa mudou desde a Primavera Árabe e os movimentos dos indignados. Houve uma interrupção da lógica da resignação à necessidade histórica preconizada por nossos governos e sustentada pela opinião intelectual. Desde o colapso do sistema soviético, o discurso intelectual contribuía para endossar de forma hipócrita os esforços dos poderes financeiros e estatais para implodir as estruturas coletivas de resistência ao poder do mercado. Esse discurso acabou impondo a ideia de que a revolta não era apenas inútil, mas também prejudicial. Seja qual for o seu futuro, os movimentos recentes, pelo menos, põem em xeque esta suposta fatalidade histórica. Eles terão se lembrado que não estamos lidando com uma crise de nossas sociedades, e sim com um momento extremo da ofensiva destinada a impor em todos os lugares as formas mais brutais de exploração, e que é possível que os 99% façam ouvir a sua voz contra essa ofensiva.
O que podemos fazer para restaurar os valores democráticos?
Para começar, seria necessário chegar a um acordo sobre o que chamamos de democracia. Na Europa, nos acostumamos a identificar a democracia com o sistema duplo de instituições representativas e do livre mercado. Hoje, este idílio é uma coisa do passado: o livre mercado se mostra cada vez mais como uma força de constrição que transforma as instituições representativas em simples agentes da sua vontade e reduz a liberdade de escolha dos cidadãos às variantes de uma mesma lógica fundamental. Nesta situação, ou denunciamos a própria ideia de democracia como uma ilusão, ou repensamos completamente o que a democracia, no sentido forte do termo, significa. Para começar, a democracia não é uma forma de Estado. Ela é, em primeiro lugar, a realidade de um poder do povo que não pode jamais coincidir com uma forma de Estado. Sempre haverá tensão entre a democracia como exercício de um poder compartilhado de pensar e agir, e o Estado, cujo princípio mesmo é apropriar-se desse poder. Evidentemente, os estados justificam essa apropriação argumentando a complexidade dos problemas, a necessidade de se pensar a longo prazo, etc. Mas a verdade é que os políticos estão muito mais submetidos ao presente. Recuperar os valores da democracia é, em primeiro lugar, reafirmar a existência de uma capacidade de julgar e decidir, que é a de todos, frente a essa monopolização. É também reafirmar a necessidade de que essa capacidade seja exercida por meio de instituições próprias, distintas do Estado. A primeira virtude democrática é essa virtude da confiança na capacidade de qualquer um.
No prefácio de seu livro, o senhor critica os políticos e os intelectuais, mas qual é a responsabilidade dos cidadãos na atual situação e na crise econômica?
Para caracterizar os fenômenos do nosso tempo é necessário, em primeiro lugar, questionar o conceito de crise. Fala-se da crise da sociedade, da crise da democracia, etc. É uma maneira de culpar as vítimas da situação atual. Pois bem, essa situação não é o resultado de uma doença da civilização, e sim da violência com que os senhores do mundo dirigem hoje a sua ofensiva contra os povos. O grande defeito dos cidadãos continua sendo, hoje, o mesmo de sempre: deixar-se despojar de seu poder. Ora, o poder dos cidadãos é, acima de tudo, o poder de agir por si próprios, de constituir-se em força autônoma. A cidadania não é uma prerrogativa ligada ao fato de haver sido contabilizado no censo como habitante e eleitor em um país; ela é, acima de tudo, um exercício que não pode ser delegado. Portanto, é preciso opor claramente esse exercício da ação cidadã aos discursos moralizantes que se ouvem em quase todos os lugares sobre a responsabilidade dos cidadãos na crise da democracia. Esses discursos lamentam o desinteresse dos cidadãos pela vida pública e o imputam à deriva individualista dos indivíduos consumidores. Essas supostas chamadas à responsabilidade cidadã só têm, na verdade, um efeito: culpar os cidadãos para prendê-los mais facilmente no jogo institucional que só consiste em selecionar, entre os membros da classe dominante, aqueles por quem os cidadãos preferirão deixar-se despojar de sua potência de agir.
* Tradução e nota introdutória de Idelber Avelar.
** Publicado originalmente no site Revista Fórum.