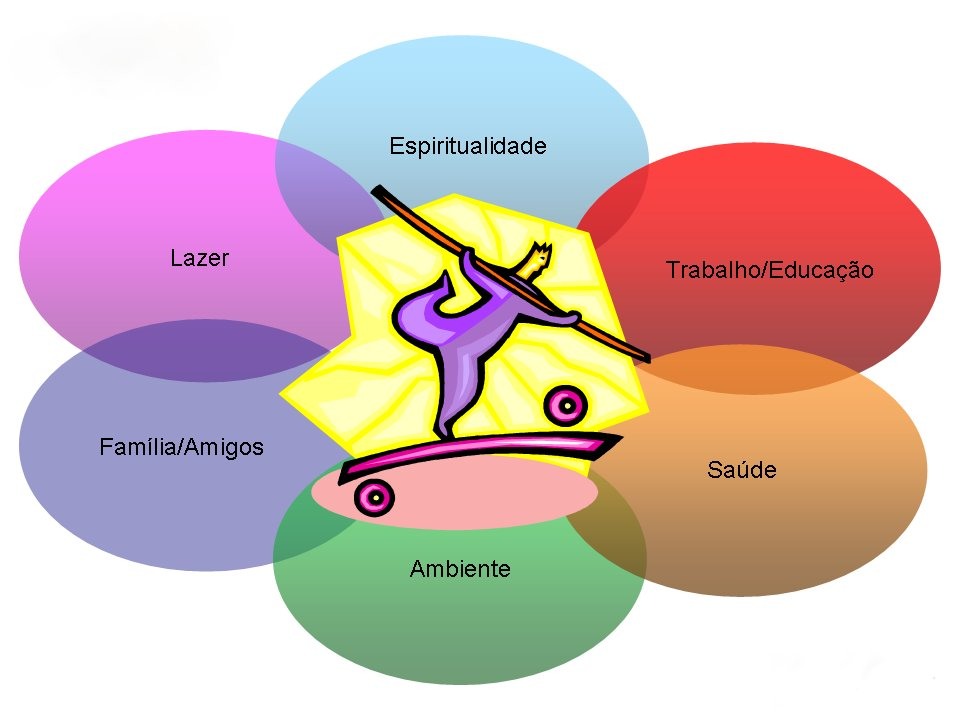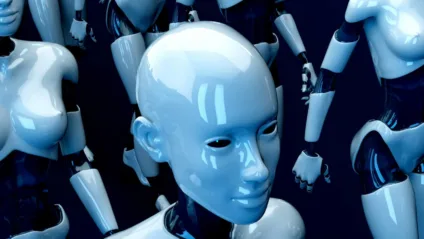Quem não aprende com uma boa conversa? Com conversa, não monólogo. E o que se faz na escola? Aprende-se! Mas já sabemos que não é bem assim, aliás não é nada assim.
Escolas são repletas de monólogos e, por mais que se diga que sejam o segundo núcleo de convívio social de crianças e jovens, elas mesmas, enquanto instituição, nem sempre se reconhecem nessa função. Se todos concordam que aprendemos uns com os outros e que, quanto mais interação, mais aprendizagem, por que não conseguimos levar esse pressuposto para dentro da sala de aula?
Basta pensarmos em uma sala típica: carteiras enfileiradas, mesa do professor à frente, os ditos “bons alunos” nas primeiras fileiras, os que não gostam de aparecer muito nos lugares intermediários e a “turma do fundão”. Essa configuração ajuda a interagir? Claro que não. Ainda assim, mais de 70% das escolas brasileiras, públicas e privadas, utilizam esse modelo, que permite acomodar um número maior de alunos e dá, ao docente, uma falsa sensação de controle.
Junto com essa disposição, vem um pacote completo de atitudes e dinâmicas que contrariam tudo o que já se sabe sobre as melhores estratégias para promover o aprendizado. Estudos mostram, por exemplo, que a taxa de aprendizagem de uma aula expositiva é de apenas 5%; de leitura, 10%; e de audiovisual, 20%. No outro extremo, as taxas de aprendizagem por meio de discussão em grupo saltam para 50%; de aprender fazendo para 75%; e de ensinar outra pessoa para promissores 90%.
A convergência desses três últimos pontos está na base das pesquisas desenvolvidas durante trinta anos pela professora Rachel Lotan, da Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA), sobre como a interação promove a aprendizagem. Para ela, o trabalho em grupo é a ferramenta essencial para acionar simultaneamente o poder da discussão, do aprender fazendo e do ensinar, como defende no recém-lançado Planejando o trabalho em grupo (Editora Penso/Instituto Sidarta).
Minhas memórias sobre trabalho em grupo na escola, como aluna, não são nada boas. O coração acelerava quando era a professora que escolhia quem trabalharia com quem – e o medo de “cair num grupo fraco” e não aprender nada? Parecia castigo. A coisa piorava na realização do trabalho. Compartimentávamos as tarefas de acordo com os talentos já reconhecidos – o mais artista fazia a capa, outro, com letra bonita, escrevia e aquele que falava bem apresentava. Assim, o trabalho em grupo se transformava em qualquer coisa, menos numa realização coletiva. Não promovia a interação e ainda ajudava a cristalizar o “Status”, um dos conceitos desenvolvidos por Rachel em seu livro para se referir a papéis rotuladores, como “o inteligente”, “o mau aluno” etc.
Educadora de alma inquieta, Rachel acredita que todos são capazes de aprender e que nada é mais prático do que uma boa teoria. Em sua pesquisa, ela constatou que a concentração de um aluno dura cerca de cinco slides ou dez minutos de exposição. Depois, ele desliga. O que dizer, então, de uma aula em que o professor fale por mais de duas horas seguidas, somadas a cinco a sete minutos de intervenções da classe? A resposta pode estar em um outro estudo, no qual um grupo de crianças teve suas frequências cerebrais monitoradas. O mapeamento mostrou que a frequência deles dormindo e assistindo aula eram iguais.
A solução proposta por Rachel é delegar ao aluno autoridade sobre a própria aprendizagem. Mas, para isso, o trabalho em grupo precisa ser algo diferente do que ainda se realiza em muitas escolas brasileiras. Ele deve promover novas memórias de aprendizado e causar uma ruptura no “Status” para que haja interação e mais equidade na sala de aula.
Alterar positivamente o “Status” cria um ambiente mais seguro para a aprendizagem. É como promover um novo nivelamento, no qual toda criança e jovem se sente igualmente desafiado por questões nas quais precisa trabalhar de forma colaborativa para aprender. Os alunos compreendem o valor de se sentir capazes e o desafio de desempenhar múltiplos papéis em sua vida escolar, sem serem rotulados, nem para o bem, nem para o mal, mas para simplesmente SER, único e plural.
Para promover essa interação, porém, as instituições precisam estar dispostas a criar propostas intelectualmente desafiadoras, a dar as mesmas oportunidades a todos, a criar problemáticas que levem os alunos a conversar, discutir e ponderar entre si, levando-os a se reconhecer como pares igualmente competentes e contribuintes para o aprendizado de todos. É um círculo virtuoso de mais conversas, mais trocas, mais aprendizado.
O desafio é não silenciar as turmas nem considerar que uns sejam melhores do que outros. Aos professores, cabe serem mais ouvidores e mais perguntadores do que respondedores. Não podemos esquecer que, desde as pesquisas de Howard Gardner (psicólogo cognitivo, criador da teoria das inteligências múltiplas), a “inteligência” foi definitivamente para o plural: “inteligências”.
*Claudia Siqueira, historiadora e pedagoga, é diretora do Instituto Sidarta (SP) e consultora educacional e palestrante em formação de educadores e articulação entre políticas públicas e iniciativas privadas
(#Envolverde)